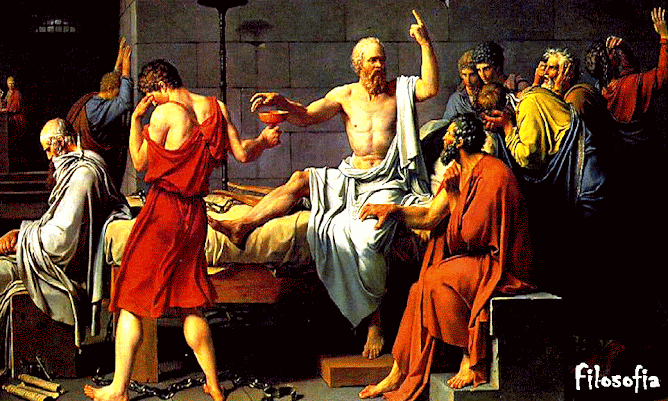O diálogo, o livre exercício do pensamento e a amizade são os pilares mais simples, mas indispensáveis para o fazer filosófico. Com esta convicção começa Historia de la Filosofia sin temor ni temblor (História da Filosofia sem temor nem tremor) de Fernando Savater, que, nesta entrevista, pouco antes de chegar a Buenos Aires para apresentar o seu livro, reflete sobre a tarefa de divulgar a filosofia na era em que a ágora são os meios de comunicação e a internet. A reportagem e a entrevista é de Mariano Dorr e está publicada no jornal argentino Página/12, 16-11-2009. A tradução é do Cepat.
Fonte: UNISINOSNas primeiras páginas deste livro ilustrado – por Juan Carlos Savater, irmão de Fernando – e pensado no começo como uma história da filosofia para os principiantes nas lidas desta disciplina, o autor nos propõe uma breve introdução à sua problemática através da reflexão sobre a natureza das perguntas. No cotidiano, muitas vezes dependemos de certas perguntas para resolver problemas mais ou menos urgentes. “Estiveste em Paris?, A que temperatura ferve a água?, Gostas de mim?”. As respostas servem para saber como devemos agir na sequência; perguntando, aprendemos a viver melhor.
Ao mesmo tempo, há respostas que parecem cancelar todo o interesse da pergunta: o que importa a pergunta sobre que horas são quando já fomos informados que são, por exemplo, dez da manhã? Savater interpela os seus leitores: “Imagina que em vez de perguntar que horas são, te ocorreria perguntar o que é o tempo. Ai, caramba, agora começam as dificuldades”, escreve. Aqui, então, se trata de uma pergunta sobre a nossa própria natureza temporal, nosso modo – como sujeitos pensantes – de ser no tempo. E não poderemos aproximar-nos de especialistas no tempo (antes poderíamos ter perguntado a hora a um relojoeiro). Ninguém sabe definitivamente o que é o tempo (nem a morte, nem a verdade, nem a liberdade, nem o universo): “Melhor será que fales com os outros, com os teus semelhantes, com outros preocupados como tu”. O diálogo aparece então como o modo privilegiado de aproximação da tarefa do filósofo.
Conversando por telefone, Savater nos explica em que consiste para ele esta dimensão essencialmente dialógica da filosofia.
“O diálogo livre e aberto caracteriza a filosofia em relação aos outros tipos de saberes. Às vezes se fala de que também houve filosofia hindu e filosofia na China. O termo é muito amplo, é impreciso se pode dizer, mas creio que nesses casos podemos falar de sabedorias: sabedoria hindu, chinesa, etc. Mas a filosofia propriamente dita nasce na Grécia junto com a democracia. É o equivalente intelectual à democracia no terreno político”. Prescindindo de genealogias, de hierarquias, de tradições, de lendas, a democracia e a filosofia representam a autonomia igualitária dos indivíduos para encontrar um sentido à vida em comum (no caso da política) e a reflexão sobre a própria existência humana (no caso da filosofia). Ali está o essencial, disse Savater: “O filósofo não é um sábio que está acima dos demais, distante, mas que está, de alguma maneira, na mesma altura, está no mesmo plano que os outros e entra em contato com eles. Toda a filosofia é interativa”.
Contudo, História da Filosofia sem temor nem tremor também dá conta de certa impossibilidade do diálogo, mesmo quando se trata do encontro entre um afamado filósofo (Diógenes de Sinope) e um homem formado pelo próprio Aristóteles (Alexandre Magno). Conta a história que quando Alexandre teve oportunidade de conhecer Diógenes, o cínico (que vivia em um pote de barro, como um cachorro, fazendo de sua pobreza uma virtude), ao encontrar-se diante do filósofo apresentou-se como sendo soberano e que pedisse o que quisesse, que imediatamente lhe seria dado; Diógenes grunhiu. Alexandre insistiu, e o cínico respondeu: “Vou pedir-te que te afastes um pouco, pois estás tapando o sol”. O conquistador de todo o mundo conhecido não foi capaz de conquistar Diógenes. Savater disse a este respeito: “O diálogo filosófico exige fair play dos dois lados, exige uma aceitação do outro como semelhante a título de igual a si mesmo. E, evidentemente, Diógenes e Alexandre se enfrentam e creio que nenhum dos dois é capaz de aceitar o outro como um semelhante no mesmo plano; então, aí não há filosofia possível. A filosofia nasce, precisamente, quando estamos no plano de humanidade, não quando estamos num plano hierárquico socialmente”.
Um encontro muito diferente, desta vez frutífero em termos filosóficos, se dá entre um escravo (Epiteto) e um imperador (Marco Aurélio): “Aí sim se dá um reconhecimento, de fato Marco Aurélio não somente nunca se sente diferente ou superior a Epiteto, a quem tem por mestre, mas que praticamente lhe concede maior autoridade moral do que a si mesmo. Aí sim há um claro exemplo de como se pode tirar todas as vestimentas; um é escravo, o outro um liberto; este é um imperador, mas no momento da filosofia são dois seres racionais, dois seres pensantes, dois mortais que sabem o que vai lhes ocorrer”.
Cada um dos capítulos do livro termina com um diálogo entre Alba e Nemo, uma menina e um menino de entre doze e treze anos. Conversam sobre o capítulo que acaba de ser concluído, produzem novas discussões, vão descobrindo lentamente o fascínio pelas incertezas do pensamento: “Alba e Nemo têm de algum modo a idade primária dos leitores aos quais em princípio se pode dirigir mais diretamente o livro. Estes donzelos falam... e falam talvez de coisas que lhe ocorrem por conta do que acaba de ser descrito no texto. O que eu queria era dar uma vivacidade e uma proximidade ao conteúdo do livro, e também, mostrar que o pensamento continua. Ou seja, o pensamento não é algo que seja coisa de alguns especialistas que dizem o que deve ser dito e, então, aos demais só cabe repeti-lo, mas que o pensamento continua. Dessa maneira queria dizer que Alba e Nemo (ou qualquer menino dessa idade, ou qualquer pessoa de nosso tempo) também são pensadores, e que todos nós temos que sê-lo, devemos continuar essa tarefa”.
A inclusão destes personagens não apenas reforça a ideia de diálogo que Savater coloca no centro da reflexão filosófica, como também aparece, entre eles, a necessidade de vincular o exercício do pensamento com a prática da amizade, um dos traços mais singelos da ética de Aristóteles. É tão forte a ideia de amizade que, escreve Savater, Aristóteles “inclusive diz que, sem amigos, ninguém gostaria de se ver obrigado a viver”.
Ao alcance de todos
O livro é escrito com humor e uma enorme simplicidade, quase como se estivéssemos escutando a voz de Fernando Savater (que nos é bastante familiar há alguns anos, devido à sua incursão em programas de TV a cabo exibidos na Argentina, sobretudo o 10 M, onde Savater refletia junto com outras figuras da cultura hispano-americana em torno da influência dos Dez Mandamentos na atualidade). A clareza expressiva de Savater faz do livro uma excelente ferramenta para aqueles que não tiveram até agora a oportunidade de se interiorizar nas idas e vindas da história do pensamento. A filosofia, desde seu nascimento na Grécia, luta por chegar à maior quantidade de pessoas possível. Por isso, Parmênides (século VI a.C.), em vez de escrever um tratado filosófico, escreveu um Poema, onde começa falando das musas quase como uma escusa, para que o escutassem na praça pública, enquanto que na realidade trata-se apenas de um estratagema para ensinar os seus concidadãos acerca do Ser, que – segundo escreveu – é. Mais adiante, na Academia fundada por Platão, não era permitida a entrada daqueles que não tivessem previamente um conhecimento geral da geometria. A filosofia é uma atividade que se abre à comunidade (mediante a divulgação de sua história e o tratamento de suas questões elementares, que dizem respeito a todos nós), mas que, ao mesmo tempo, se encerra entre as paredes da instituição acadêmica.
O trabalho de Fernando Savater como iniciador à filosofia não é recente; efetivamente, seu novo trabalho se situa em uma tetralogia que História da Filosofia sem temor nem tremor acaba de completar: “É um livro escolar, em um primeiro momento, mas que também está aberto a pessoas adultas que, por qualquer razão, não tenham entrado nesse campo e queiram interessar-se por ele. Primeiro apareceram dois livros de filosofia prática, Ética para Amador e Política para Amador, uma introdução à filosofia moral e uma introdução à filosofia política; depois, As perguntas da vida, que dá uma visão global dos principais temas filosóficos e o método para aproximar-se deles. E claro, faltava uma História da Filosofia... Assim, esta é a quarta entrega que eu pretendi fazer, e, além disso, apresentá-lo como um livro ilustrado, um pouco à moda antiga. É um livro que pretende ser em si mesmo, como objeto, um objeto atraente, um objeto que de alguma maneira convide à reflexão e ao paladar”. Colocar a filosofia ao alcance de todos implica aqui fazer dela um objeto bonito, que dê vontade de ter, de observar com curiosidade, guardando certa afinidade com os livros de texto que as crianças levam à escola.
Em relação à questão da popularização do pensamento filosófico, resultam significativas as palavras de Savater a propósito do estranho vínculo entre jornalismo e filosofia: “A filosofia nasce na ágora, na praça pública. Ou seja, não nasce em recintos fechados, tampouco na Academia; não é algo que nasça fechado entre quatro paredes, mas que nasce na rua, entre pessoas que não são especialistas. Trata-se de pessoas que vão fazer suas gestões, seus negócios, e que de repente param para serem interpeladas por Sócrates. Eu creio que isso é importante: hoje, a ágora... qual é a nossa ágora? Hoje a ágora são os meios de comunicação, o lugar onde nos encontramos todos. Já não somos alguns poucos milhares de pessoas como eram os atenienses no tempo de Sócrates, que podiam se reunir de algum modo em um espaço relativamente fechado. Hoje somos muitos milhões, e então nosso espaço é o espaço dos meios de comunicação, da imprensa, dos meios audiovisuais, da internet. Aí está a nossa ágora. O filósofo hoje tem que entabular diálogo com os seus semelhantes ali onde estão, quer dizer, nesses espaços comuns ou públicos”.
A filosofia nasce na rua, sem especialistas de nenhum tipo, simplesmente a partir do diálogo e da racionalização da reflexão, até dar lugar ao conceito. Contudo, isto não significa – para Savater – que devamos menosprezar o desenvolvimento da filosofia tal e como é praticada hoje nos âmbitos acadêmicos de todo o mundo: “Não tiremos importância do paper, a filosofia já é um saber especializado. Enfim, tudo isso é importante. Mas não devemos esquecer que o fundamental está em outra coisa. O fundamental é a relação entre filosofia e vida. A filosofia não é simplesmente uma disciplina a mais para obter graus acadêmicos, mas é algo para salvar a nossa vida. É, como dizia Ortega y Gasset, como o náufrago que caiu no mar, e se molha, e se debate na água para ver se consegue manter a cabeça fora da água. Isso é a filosofia, e é isso o que importa. Depois, também, para quem já faz um estudo mais especializado há, efetivamente, os papers acadêmicos e tudo o mais. Mas a maioria das pessoas não vai seguir a carreira ou uma especialização em uma matéria filosófica técnica, digamos. O que necessita é saber filosofia suficiente para a sua vida”.
Pensar contra o terror
O título do livro faz uma irônica alusão ao famoso texto de Soren Kierkegaard, Temor e tremor, no qual conta o caso de Abraão, a quem Javé pede o sacrifício de seu filho Isaac. Apesar de ser um pedido inexplicável para o próprio Abraão, este toma o seu filho nos braços e o leva à montanha, angustiado; no momento em que ia assassiná-lo, seu Deus – infinitamente estranho à razão, mas que pode salvar-nos através da experiência da angústia – o detém comprazido. Savater assinala que, para Kierkegaard, trata-se de “crer para além da lógica – e da ética – e suas explicações para acabar finalmente com todo temor e toda culpa”. Não sem admiração, Savater toma distância deste modo de entender os labirintos da razão. Desde o início de seu livro, chama a atenção dos seus leitores pedindo-lhes que não permitam que ninguém pense por eles; cada um deve fazer o exercício do pensamento por si mesmo. O mandato délfico (“conhece-te a ti mesmo”) parece exortar-nos a um cuidado da alma que não é outra coisa que um convite a mais para praticar a filosofia. Então, devemos ocupar-nos de nós mesmos, mas cuidando ao mesmo tempo para que ninguém nos imponha uma crença, posto que não podemos começar a filosofar sem levar a cabo uma crítica da religião (que no livro aparece fundamentalmente nas figuras de Erasmo de Rotterdam, Spinoza, Feuerbach, Hume, Marx, Freud e Nietzsche).
Eis a entrevista
Acredita que é na escola onde se deveria empreender esta crítica?
A escola deveria ser um lugar livre de influências religiosas. Na escola pública a religião não deveria estar presente. Eu não creio que as crianças, os jovens ou os adolescentes deveriam ser embarcados em polêmicas religiosas. Basta dizer: “Bom, todas essas lendas piedosas, todas essas tradições que explicam a origem do mundo de acordo com contos e lendas... tudo isso faz parte de uma tradição folclórica, mas isso não é a razão”. A razão começa quando renunciamos a essas coisas e quando nos fazemos as grandes perguntas só a partir de nós mesmos, do diálogo com os demais e de nossa reflexão sobre a experiência do real. E o resto deixamos de lado. Então, mais que dedicar-nos a uma crítica - no sentido polêmico - da religião, o que é preciso fazer na escola é criar um espaço livre dessa presença obsessiva religiosa.
Você assinala que pensar é pensar contra o terror...
Pensar é pensar contra o terror que nos querem impor e, ao mesmo tempo, contra o terror que sentimos nós mesmos. Há ideias que nos espantam. A verdade pode não nos ser favorável. Às vezes é preciso ter coragem para atrever-se a pensar. Não pensar o que nos é grato, o que nos convém, o que nos tranquiliza, mas realmente atrever-se a olhar as coisas de frente. E, evidentemente, desafiar também aqueles que querem intimidar-nos e se impor com suas aterradoras ideias de fora.
É possível aprender a viver?
É preciso evitar a tendência - que alguns livros recentes inclusive fomentaram - de converter a filosofia em uma espécie de forma transcendente de auto-ajuda ou algo do gênero. Eu creio que a filosofia não é uma forma de auto-ajuda. Pode haver - em alguns casos de filósofos estóicos ou epicuros - algum aspecto que soa ao que chamamos de auto-ajuda. Mas a filosofia em si mesma, como tarefa, não é um exercício de auto-ajuda, mas um exercício de como viver na incerteza. Ou seja, de viver precisamente sem necessidade de certezas supersticiosas, indiscutidas e acríticas como de alguma forma tanta gente aceita. O filósofo não aceita isso. Quer viver, mas quer viver no risco da incerteza, da dúvida, do questionamento do estabelecido.
Foram muitos os filósofos perseguidos por suas ideias ao longo da história do pensamento. Você comenta algumas destas perseguições: é o caso de Sócrates, do próprio Platão, Giordano Bruno, Galileo Galilei, outra vez Spinoza...
Alguns pensam que a história da filosofia é uma espécie de exame de cérebros que estão aí, flutuando no vazio, quase como máquinas de pensar. Os filósofos são seres com corpo, com paixões, com ambições, às vezes com misérias. E, evidentemente, a história da filosofia tampouco é simplesmente um gabinete onde uma série de senhores troca amavelmente opiniões. Ao contrário, são pessoas que sofrem prisões, enfrentamentos violentos, são levadas às fogueiras, exiladas. Há um filme recente - que eu creio ser muito adequado - de Alejandro Amenábar que se chama Ágora, onde conta a história de uma das poucas mulheres-filósofa da época antiga, Hipátia de Alexandria, que tenta filosofar e acaba esquartejada e assassinada pelos cristãos. Os poderes tanto eclesiais como civis não suportaram a busca filosófica.
Há algo de revolucionário no exercício da filosofia?
Pensar é revolucionário se tiramos a truculência da palavra. É revolucionário no sentido de que põe as coisas de pernas para o ar. Quem pensa, a primeira coisa que faz é colocar em questão, colocar entre parênteses tudo o que existe. Não é uma revolução no sentido de tiros e de tomadas do Palácio de Inverno. É uma revolução porque o que se acreditava como certo é visto como inseguro ou relativo. E, claro, tudo isso faz com que se sinta sacudido. O diálogo sacode os princípios do que parecia estabelecido.
“A sabedoria do Ocidente”
Toda a história da filosofia está condenada a ser incompleta, os filósofos são tantos (sobretudo, no começo da filosofia, na Grécia) que é impossível dar conta de todos eles em um único trabalho. No último diálogo que Alba e Nemo mantêm, conversam sobre esta questão. Nemo: “Isto é tudo? Se já não há mais filósofos, acabou a história da filosofia?”. Alba: “Não, homem, claro que não. É certo que houve muito mais filósofos antes e vai havê-los depois. Estou convencida de que para pensar filosoficamente não é preciso ter carteirinha de filósofo, nem um título que nos autorize a filosofar. Eu creio que a filosofia é, às vezes, o ofício de alguns, mas mais cedo ou mais tarde representa uma necessidade na vida de todos e de qualquer um”. Alba é um pouco mais sensível que Nemo. Aparecem desenhados, ao final de cada capítulo, discutindo, às vezes na Grécia, outras vezes presenciando a Revolução Francesa, ou no porto de Alexandria, no norte do Egito, percorrendo os cenários da história do pensamento.
Depois do último capítulo aparece uma Explicação final, onde vemos um desenho de Fernando Savater, com seus óculos característicos, sentado em um púlpito junto com seus “pupilos”, Alba e Nemo, cada um com uma folha e uma caneta. Estão tendo uma aula? De quem? Nada menos que de Bertrand Russell. Esta cena funciona como uma espécie de homenagem de Savater ao grande mestre inglês: “A sabedoria do Ocidente de Bertrand Russell foi o primeiro livro que eu tive e de que gostei. Era uma história da filosofia muito ilustrada, um livro grande, muito atraente, no qual Russell de alguma maneira condensava ou resumia a bem conhecida História da Filosofia que ele mesmo escreveu, muito mais extensa. Nesse livro foi onde eu vi as primeiras imagens dos filósofos, as primeiras ilustrações, fotografias e paisagens filosóficas, por assim dizer. Foi meu primeiro livro filosófico e ainda o tenho, o guardo há muitos anos. Então, quando fiz esta História da Filosofia quis fazer uma espécie de homenagem a esse livro que me despertou a vocação. E tomara que o meu também – salvaguardando as distâncias que me separam do talento de Russell – sirva para ajudar alguém a se interessar pela filosofia”.
Curiosamente, terminamos o livro imaginando um Fernando Savater adolescente, observando as folhas daquele livro de Russell (que ainda se acha em alguns sebos), absorto em seus pensamentos. A epígrafe desta História da Filosofia sem temor nem tremor resume também esta intenção de aproximar a filosofia de todo o mundo, sem restrições de idade. Trata-se do começo da famosa Carta sobre a felicidade (a Meneceu) [Unesp, 2002], onde Epicuro disse: “Que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito”. Neste sentido, o livro não é simplesmente uma introdução para os jovens, mas que Savater parece dizer àqueles que já se sintam grandes para a filosofia: “Vem, senta-te aqui, escutemos juntos as palavras de Bertrand Russell, como eu disse quando tinha doze anos de idade”.
Ao mesmo tempo, há respostas que parecem cancelar todo o interesse da pergunta: o que importa a pergunta sobre que horas são quando já fomos informados que são, por exemplo, dez da manhã? Savater interpela os seus leitores: “Imagina que em vez de perguntar que horas são, te ocorreria perguntar o que é o tempo. Ai, caramba, agora começam as dificuldades”, escreve. Aqui, então, se trata de uma pergunta sobre a nossa própria natureza temporal, nosso modo – como sujeitos pensantes – de ser no tempo. E não poderemos aproximar-nos de especialistas no tempo (antes poderíamos ter perguntado a hora a um relojoeiro). Ninguém sabe definitivamente o que é o tempo (nem a morte, nem a verdade, nem a liberdade, nem o universo): “Melhor será que fales com os outros, com os teus semelhantes, com outros preocupados como tu”. O diálogo aparece então como o modo privilegiado de aproximação da tarefa do filósofo.
Conversando por telefone, Savater nos explica em que consiste para ele esta dimensão essencialmente dialógica da filosofia.
“O diálogo livre e aberto caracteriza a filosofia em relação aos outros tipos de saberes. Às vezes se fala de que também houve filosofia hindu e filosofia na China. O termo é muito amplo, é impreciso se pode dizer, mas creio que nesses casos podemos falar de sabedorias: sabedoria hindu, chinesa, etc. Mas a filosofia propriamente dita nasce na Grécia junto com a democracia. É o equivalente intelectual à democracia no terreno político”. Prescindindo de genealogias, de hierarquias, de tradições, de lendas, a democracia e a filosofia representam a autonomia igualitária dos indivíduos para encontrar um sentido à vida em comum (no caso da política) e a reflexão sobre a própria existência humana (no caso da filosofia). Ali está o essencial, disse Savater: “O filósofo não é um sábio que está acima dos demais, distante, mas que está, de alguma maneira, na mesma altura, está no mesmo plano que os outros e entra em contato com eles. Toda a filosofia é interativa”.
Contudo, História da Filosofia sem temor nem tremor também dá conta de certa impossibilidade do diálogo, mesmo quando se trata do encontro entre um afamado filósofo (Diógenes de Sinope) e um homem formado pelo próprio Aristóteles (Alexandre Magno). Conta a história que quando Alexandre teve oportunidade de conhecer Diógenes, o cínico (que vivia em um pote de barro, como um cachorro, fazendo de sua pobreza uma virtude), ao encontrar-se diante do filósofo apresentou-se como sendo soberano e que pedisse o que quisesse, que imediatamente lhe seria dado; Diógenes grunhiu. Alexandre insistiu, e o cínico respondeu: “Vou pedir-te que te afastes um pouco, pois estás tapando o sol”. O conquistador de todo o mundo conhecido não foi capaz de conquistar Diógenes. Savater disse a este respeito: “O diálogo filosófico exige fair play dos dois lados, exige uma aceitação do outro como semelhante a título de igual a si mesmo. E, evidentemente, Diógenes e Alexandre se enfrentam e creio que nenhum dos dois é capaz de aceitar o outro como um semelhante no mesmo plano; então, aí não há filosofia possível. A filosofia nasce, precisamente, quando estamos no plano de humanidade, não quando estamos num plano hierárquico socialmente”.
Um encontro muito diferente, desta vez frutífero em termos filosóficos, se dá entre um escravo (Epiteto) e um imperador (Marco Aurélio): “Aí sim se dá um reconhecimento, de fato Marco Aurélio não somente nunca se sente diferente ou superior a Epiteto, a quem tem por mestre, mas que praticamente lhe concede maior autoridade moral do que a si mesmo. Aí sim há um claro exemplo de como se pode tirar todas as vestimentas; um é escravo, o outro um liberto; este é um imperador, mas no momento da filosofia são dois seres racionais, dois seres pensantes, dois mortais que sabem o que vai lhes ocorrer”.
Cada um dos capítulos do livro termina com um diálogo entre Alba e Nemo, uma menina e um menino de entre doze e treze anos. Conversam sobre o capítulo que acaba de ser concluído, produzem novas discussões, vão descobrindo lentamente o fascínio pelas incertezas do pensamento: “Alba e Nemo têm de algum modo a idade primária dos leitores aos quais em princípio se pode dirigir mais diretamente o livro. Estes donzelos falam... e falam talvez de coisas que lhe ocorrem por conta do que acaba de ser descrito no texto. O que eu queria era dar uma vivacidade e uma proximidade ao conteúdo do livro, e também, mostrar que o pensamento continua. Ou seja, o pensamento não é algo que seja coisa de alguns especialistas que dizem o que deve ser dito e, então, aos demais só cabe repeti-lo, mas que o pensamento continua. Dessa maneira queria dizer que Alba e Nemo (ou qualquer menino dessa idade, ou qualquer pessoa de nosso tempo) também são pensadores, e que todos nós temos que sê-lo, devemos continuar essa tarefa”.
A inclusão destes personagens não apenas reforça a ideia de diálogo que Savater coloca no centro da reflexão filosófica, como também aparece, entre eles, a necessidade de vincular o exercício do pensamento com a prática da amizade, um dos traços mais singelos da ética de Aristóteles. É tão forte a ideia de amizade que, escreve Savater, Aristóteles “inclusive diz que, sem amigos, ninguém gostaria de se ver obrigado a viver”.
Ao alcance de todos
O livro é escrito com humor e uma enorme simplicidade, quase como se estivéssemos escutando a voz de Fernando Savater (que nos é bastante familiar há alguns anos, devido à sua incursão em programas de TV a cabo exibidos na Argentina, sobretudo o 10 M, onde Savater refletia junto com outras figuras da cultura hispano-americana em torno da influência dos Dez Mandamentos na atualidade). A clareza expressiva de Savater faz do livro uma excelente ferramenta para aqueles que não tiveram até agora a oportunidade de se interiorizar nas idas e vindas da história do pensamento. A filosofia, desde seu nascimento na Grécia, luta por chegar à maior quantidade de pessoas possível. Por isso, Parmênides (século VI a.C.), em vez de escrever um tratado filosófico, escreveu um Poema, onde começa falando das musas quase como uma escusa, para que o escutassem na praça pública, enquanto que na realidade trata-se apenas de um estratagema para ensinar os seus concidadãos acerca do Ser, que – segundo escreveu – é. Mais adiante, na Academia fundada por Platão, não era permitida a entrada daqueles que não tivessem previamente um conhecimento geral da geometria. A filosofia é uma atividade que se abre à comunidade (mediante a divulgação de sua história e o tratamento de suas questões elementares, que dizem respeito a todos nós), mas que, ao mesmo tempo, se encerra entre as paredes da instituição acadêmica.
O trabalho de Fernando Savater como iniciador à filosofia não é recente; efetivamente, seu novo trabalho se situa em uma tetralogia que História da Filosofia sem temor nem tremor acaba de completar: “É um livro escolar, em um primeiro momento, mas que também está aberto a pessoas adultas que, por qualquer razão, não tenham entrado nesse campo e queiram interessar-se por ele. Primeiro apareceram dois livros de filosofia prática, Ética para Amador e Política para Amador, uma introdução à filosofia moral e uma introdução à filosofia política; depois, As perguntas da vida, que dá uma visão global dos principais temas filosóficos e o método para aproximar-se deles. E claro, faltava uma História da Filosofia... Assim, esta é a quarta entrega que eu pretendi fazer, e, além disso, apresentá-lo como um livro ilustrado, um pouco à moda antiga. É um livro que pretende ser em si mesmo, como objeto, um objeto atraente, um objeto que de alguma maneira convide à reflexão e ao paladar”. Colocar a filosofia ao alcance de todos implica aqui fazer dela um objeto bonito, que dê vontade de ter, de observar com curiosidade, guardando certa afinidade com os livros de texto que as crianças levam à escola.
Em relação à questão da popularização do pensamento filosófico, resultam significativas as palavras de Savater a propósito do estranho vínculo entre jornalismo e filosofia: “A filosofia nasce na ágora, na praça pública. Ou seja, não nasce em recintos fechados, tampouco na Academia; não é algo que nasça fechado entre quatro paredes, mas que nasce na rua, entre pessoas que não são especialistas. Trata-se de pessoas que vão fazer suas gestões, seus negócios, e que de repente param para serem interpeladas por Sócrates. Eu creio que isso é importante: hoje, a ágora... qual é a nossa ágora? Hoje a ágora são os meios de comunicação, o lugar onde nos encontramos todos. Já não somos alguns poucos milhares de pessoas como eram os atenienses no tempo de Sócrates, que podiam se reunir de algum modo em um espaço relativamente fechado. Hoje somos muitos milhões, e então nosso espaço é o espaço dos meios de comunicação, da imprensa, dos meios audiovisuais, da internet. Aí está a nossa ágora. O filósofo hoje tem que entabular diálogo com os seus semelhantes ali onde estão, quer dizer, nesses espaços comuns ou públicos”.
A filosofia nasce na rua, sem especialistas de nenhum tipo, simplesmente a partir do diálogo e da racionalização da reflexão, até dar lugar ao conceito. Contudo, isto não significa – para Savater – que devamos menosprezar o desenvolvimento da filosofia tal e como é praticada hoje nos âmbitos acadêmicos de todo o mundo: “Não tiremos importância do paper, a filosofia já é um saber especializado. Enfim, tudo isso é importante. Mas não devemos esquecer que o fundamental está em outra coisa. O fundamental é a relação entre filosofia e vida. A filosofia não é simplesmente uma disciplina a mais para obter graus acadêmicos, mas é algo para salvar a nossa vida. É, como dizia Ortega y Gasset, como o náufrago que caiu no mar, e se molha, e se debate na água para ver se consegue manter a cabeça fora da água. Isso é a filosofia, e é isso o que importa. Depois, também, para quem já faz um estudo mais especializado há, efetivamente, os papers acadêmicos e tudo o mais. Mas a maioria das pessoas não vai seguir a carreira ou uma especialização em uma matéria filosófica técnica, digamos. O que necessita é saber filosofia suficiente para a sua vida”.
Pensar contra o terror
O título do livro faz uma irônica alusão ao famoso texto de Soren Kierkegaard, Temor e tremor, no qual conta o caso de Abraão, a quem Javé pede o sacrifício de seu filho Isaac. Apesar de ser um pedido inexplicável para o próprio Abraão, este toma o seu filho nos braços e o leva à montanha, angustiado; no momento em que ia assassiná-lo, seu Deus – infinitamente estranho à razão, mas que pode salvar-nos através da experiência da angústia – o detém comprazido. Savater assinala que, para Kierkegaard, trata-se de “crer para além da lógica – e da ética – e suas explicações para acabar finalmente com todo temor e toda culpa”. Não sem admiração, Savater toma distância deste modo de entender os labirintos da razão. Desde o início de seu livro, chama a atenção dos seus leitores pedindo-lhes que não permitam que ninguém pense por eles; cada um deve fazer o exercício do pensamento por si mesmo. O mandato délfico (“conhece-te a ti mesmo”) parece exortar-nos a um cuidado da alma que não é outra coisa que um convite a mais para praticar a filosofia. Então, devemos ocupar-nos de nós mesmos, mas cuidando ao mesmo tempo para que ninguém nos imponha uma crença, posto que não podemos começar a filosofar sem levar a cabo uma crítica da religião (que no livro aparece fundamentalmente nas figuras de Erasmo de Rotterdam, Spinoza, Feuerbach, Hume, Marx, Freud e Nietzsche).
Eis a entrevista
Acredita que é na escola onde se deveria empreender esta crítica?
A escola deveria ser um lugar livre de influências religiosas. Na escola pública a religião não deveria estar presente. Eu não creio que as crianças, os jovens ou os adolescentes deveriam ser embarcados em polêmicas religiosas. Basta dizer: “Bom, todas essas lendas piedosas, todas essas tradições que explicam a origem do mundo de acordo com contos e lendas... tudo isso faz parte de uma tradição folclórica, mas isso não é a razão”. A razão começa quando renunciamos a essas coisas e quando nos fazemos as grandes perguntas só a partir de nós mesmos, do diálogo com os demais e de nossa reflexão sobre a experiência do real. E o resto deixamos de lado. Então, mais que dedicar-nos a uma crítica - no sentido polêmico - da religião, o que é preciso fazer na escola é criar um espaço livre dessa presença obsessiva religiosa.
Você assinala que pensar é pensar contra o terror...
Pensar é pensar contra o terror que nos querem impor e, ao mesmo tempo, contra o terror que sentimos nós mesmos. Há ideias que nos espantam. A verdade pode não nos ser favorável. Às vezes é preciso ter coragem para atrever-se a pensar. Não pensar o que nos é grato, o que nos convém, o que nos tranquiliza, mas realmente atrever-se a olhar as coisas de frente. E, evidentemente, desafiar também aqueles que querem intimidar-nos e se impor com suas aterradoras ideias de fora.
É possível aprender a viver?
É preciso evitar a tendência - que alguns livros recentes inclusive fomentaram - de converter a filosofia em uma espécie de forma transcendente de auto-ajuda ou algo do gênero. Eu creio que a filosofia não é uma forma de auto-ajuda. Pode haver - em alguns casos de filósofos estóicos ou epicuros - algum aspecto que soa ao que chamamos de auto-ajuda. Mas a filosofia em si mesma, como tarefa, não é um exercício de auto-ajuda, mas um exercício de como viver na incerteza. Ou seja, de viver precisamente sem necessidade de certezas supersticiosas, indiscutidas e acríticas como de alguma forma tanta gente aceita. O filósofo não aceita isso. Quer viver, mas quer viver no risco da incerteza, da dúvida, do questionamento do estabelecido.
Foram muitos os filósofos perseguidos por suas ideias ao longo da história do pensamento. Você comenta algumas destas perseguições: é o caso de Sócrates, do próprio Platão, Giordano Bruno, Galileo Galilei, outra vez Spinoza...
Alguns pensam que a história da filosofia é uma espécie de exame de cérebros que estão aí, flutuando no vazio, quase como máquinas de pensar. Os filósofos são seres com corpo, com paixões, com ambições, às vezes com misérias. E, evidentemente, a história da filosofia tampouco é simplesmente um gabinete onde uma série de senhores troca amavelmente opiniões. Ao contrário, são pessoas que sofrem prisões, enfrentamentos violentos, são levadas às fogueiras, exiladas. Há um filme recente - que eu creio ser muito adequado - de Alejandro Amenábar que se chama Ágora, onde conta a história de uma das poucas mulheres-filósofa da época antiga, Hipátia de Alexandria, que tenta filosofar e acaba esquartejada e assassinada pelos cristãos. Os poderes tanto eclesiais como civis não suportaram a busca filosófica.
Há algo de revolucionário no exercício da filosofia?
Pensar é revolucionário se tiramos a truculência da palavra. É revolucionário no sentido de que põe as coisas de pernas para o ar. Quem pensa, a primeira coisa que faz é colocar em questão, colocar entre parênteses tudo o que existe. Não é uma revolução no sentido de tiros e de tomadas do Palácio de Inverno. É uma revolução porque o que se acreditava como certo é visto como inseguro ou relativo. E, claro, tudo isso faz com que se sinta sacudido. O diálogo sacode os princípios do que parecia estabelecido.
“A sabedoria do Ocidente”
Toda a história da filosofia está condenada a ser incompleta, os filósofos são tantos (sobretudo, no começo da filosofia, na Grécia) que é impossível dar conta de todos eles em um único trabalho. No último diálogo que Alba e Nemo mantêm, conversam sobre esta questão. Nemo: “Isto é tudo? Se já não há mais filósofos, acabou a história da filosofia?”. Alba: “Não, homem, claro que não. É certo que houve muito mais filósofos antes e vai havê-los depois. Estou convencida de que para pensar filosoficamente não é preciso ter carteirinha de filósofo, nem um título que nos autorize a filosofar. Eu creio que a filosofia é, às vezes, o ofício de alguns, mas mais cedo ou mais tarde representa uma necessidade na vida de todos e de qualquer um”. Alba é um pouco mais sensível que Nemo. Aparecem desenhados, ao final de cada capítulo, discutindo, às vezes na Grécia, outras vezes presenciando a Revolução Francesa, ou no porto de Alexandria, no norte do Egito, percorrendo os cenários da história do pensamento.
Depois do último capítulo aparece uma Explicação final, onde vemos um desenho de Fernando Savater, com seus óculos característicos, sentado em um púlpito junto com seus “pupilos”, Alba e Nemo, cada um com uma folha e uma caneta. Estão tendo uma aula? De quem? Nada menos que de Bertrand Russell. Esta cena funciona como uma espécie de homenagem de Savater ao grande mestre inglês: “A sabedoria do Ocidente de Bertrand Russell foi o primeiro livro que eu tive e de que gostei. Era uma história da filosofia muito ilustrada, um livro grande, muito atraente, no qual Russell de alguma maneira condensava ou resumia a bem conhecida História da Filosofia que ele mesmo escreveu, muito mais extensa. Nesse livro foi onde eu vi as primeiras imagens dos filósofos, as primeiras ilustrações, fotografias e paisagens filosóficas, por assim dizer. Foi meu primeiro livro filosófico e ainda o tenho, o guardo há muitos anos. Então, quando fiz esta História da Filosofia quis fazer uma espécie de homenagem a esse livro que me despertou a vocação. E tomara que o meu também – salvaguardando as distâncias que me separam do talento de Russell – sirva para ajudar alguém a se interessar pela filosofia”.
Curiosamente, terminamos o livro imaginando um Fernando Savater adolescente, observando as folhas daquele livro de Russell (que ainda se acha em alguns sebos), absorto em seus pensamentos. A epígrafe desta História da Filosofia sem temor nem tremor resume também esta intenção de aproximar a filosofia de todo o mundo, sem restrições de idade. Trata-se do começo da famosa Carta sobre a felicidade (a Meneceu) [Unesp, 2002], onde Epicuro disse: “Que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito”. Neste sentido, o livro não é simplesmente uma introdução para os jovens, mas que Savater parece dizer àqueles que já se sintam grandes para a filosofia: “Vem, senta-te aqui, escutemos juntos as palavras de Bertrand Russell, como eu disse quando tinha doze anos de idade”.