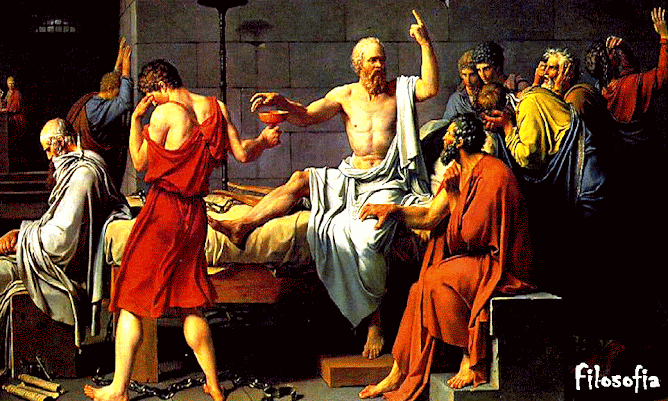Na Alemanha, a crítica da religião chegou, no essencial, ao fim. A crítica da religião é a premissa de toda crítica. A existência profana do erro ficou comprometida, uma vez refutada sua celestial
oratio pro aris et focis [oração pelo lar e pelo ócio]. O homem que só encontrou o reflexo de si mesmo na realidade fantástica do céu, onde buscava um super-homem, já não se sentirá inclinado a encontrar somente a aparência de si próprio, o não-homem, já que aquilo que busca e deve necessariamente buscar é a sua verdadeira realidade.
O homem faz a religião, não é a religião que faz o homem. A religião é, na realidade, a consciência e o sentimento próprio do homem que, ou na se encontrou ainda, ou já se perdeu de novo. Mas o homem não é um ser abstrato, exterior ao mundo real. O homem é o mundo do homem, o Estado, a sociedade. Esse Estado, essa sociedade produzem a religião, uma consciência invertida do mundo, porque constituem, eles próprios, um mundo invertido
A religião é a teoria geral deste mundo, seu compêndio enciclopédico, sua lógica popular, sua dignidade espiritualista, seu entusiasmo, sua sanção moral, seu complemento solene, sua razão geral de consolo e de justificação. É a realização fantástica da essência humana por que a essência humana carece de realidade concreta. Por conseguinte, a luta contra a religião é, indiretamente, a luta contra aquele mundo que tem na religião seu aroma espiritual.
A miséria religiosa é, de um lado, a expressão da miséria real e, de outro, o protesto contra ela. A religião é o soluço da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, o espírito de uma situação carente de espirito. É o ópio do povo. A verdadeira felicidade do povo implica que a religião seja suprimida,
enquanto felicidade ilusória do povo. A exigência de abandonar as ilusões sobre sua condição é a exigência de abandonar uma condição que necessita de ilusões. Por conseguinte, a crítica da religião é o germe da crítica do vale de lágrimas que a religião envolve numa auréola de santidade.
A crítica arrancou as flores imaginárias que enfeitavam as cadeias, não para que o homem use as cadeias sem qualquer fantasia ou consolação, mas para que se liberte das cadeias e apanhe a flor viva. A crítica da religião desengana o homem para que este pense, aja e organize sua realidade como um homem desenganado que recobrou a razão a fim de girar em torno de si mesmo e, portanto, de seu verdadeiro sol. A religião é apenas um sol fictício que se desloca em torno do homem enquanto este não se move em torno de si mesmo. Assim, superada a crença no que está além da verdade, a missão da história consiste em averiguar a verdade daquilo que nos circunda. E, como primeiro objetivo, uma vez que se desmascarou a forma de santidade da autoalienação humana, a missão da filosofia, que está à serviço da história, consiste no desmascaramento da autoalienação em suas formas não santificadas. Com isto, a crítica do céu se converte na crítica da terra, a crítica da religião na crítica do direito, a crítica da teologia na crítica da política.
A exposição seguinte - uma abordagem a este trabalho - não se prende diretamente ao original, senão a uma cópia deste, à filosofia alemã do direito e do Estado, pelo simples fato de se ater à Alemanha. Se nos quiséssemos ater ao
status quo alemão, ainda que da única maneira adequada, isto é, de modo negativo, o resultado continuaria a ser anacrônico. A mesma negação de nosso presente político já se acha coberta de pó no sótão de trastes velhos dos povos modernos. Ainda que nos recusemos a recolher estes materiais empoeirados, continuaremos conservando os materiais sem poeira. Ainda que neguemos as situações existentes na Alemanha de 1843, apenas nos situaremos, segundo a cronologia francesa, em 1789, e ainda menos no ponto focal dos dias atuais.
E o caso da história alemã gabar-se de um movimento ao qual nenhum povo do firmamento histórico se adiantou a ela, nem a seguirá. Com efeito, os alemães compartem as restaurações dos povos modernos, sem haver participado de suas revoluções. Passamos por uma restauração, em primeiro lugar, porque outros povos se atreveram a fazer uma revolução e, em segundo lugar, porque outros povos sofreram uma contra-revolução; a primeira vez porque nossos senhores tiveram medo e a segunda porque não o tiveram. Tendo à frente nossos pastores, só uma vez nos encontramos em companhia da liberdade: no dia de seu enterro.
Uma escola que legitima a infâmia de hoje com a infâmia de ontem; uma escola que declara ato de rebeldia todo grito do servo contra o knut, da mesma maneira que este é um knut pesado de anos, tradicional, histórico; uma escola a que a história só mostre seu
a posteriori, como o Deus de Israel a seu servo Moisés, numa palavra, a Escola histórica do Direito teria sido inventada pela história alemã se já não fosse por si uma invenção desta. É Shylock, mas o criado Shylock, que por cada libra de carne cortada do coração do povo, jura e perjura por sua escritura, por seus títulos históricos, por seus títulos cristão-germânicos.
Em troca, certos entusiastas bondosos, germanistas pelo sangue e liberais pela reflexão, vão buscar além da história, nas selvas teutônicas virgens, a história da nossa liberdade. Mas, se só se encontra na selva, em que se distingue a história da nossa liberdade da história da liberdade do javali? Além disso, é fato sabido que quanto mais alguém se interna no bosque, tanto mais ressoa sua voz fora deste. Por conseguinte, deixemos em paz a selva virgem teutônica. Guerra aos estados de coisas alemães! É certo que se encontram abaixo do nível da história, abaixo de toda crítica, mas continuam a ser, apesar disto, objeto de crítica, assim como o criminoso, por não se achar abaixo do nível da humanidade, não deixa de ser objeto do verdugo.
Na luta contra eles, a crítica não é uma paixão do cérebro, mas o cérebro da paixão. Não é o bisturi anatômico, mas uma arma. Seu objeto é o adversário, que não procura refutar, mas destruir. O espírito daquelas situações já foi refutado. Não são dignas de ser lembradas; devem ser desprezadas como existências proscritas. Não há necessidade da crítica esclarecer este objeto frente a si mesma, pois dele já não se ocupa. Esta crítica não se conduz como um fim em si, mas, simplesmente, como um meio. Seu sentimento essencial é a indignação; sua tarefa essencial, a denúncia.
Trata-se de descrever a surda pressão mútua de todas as esferas sociais, umas sobre as outras, a alteração geral e imprudente, a limitação que tanto se reconhece quanto se desconhece, enquadrada dentro do modelo de um sistema de governo, que, vivendo da conservação de tudo aquilo que é lamentável, não é outra coisa senão o que há de lamentável no governo. Espetáculo lamentável! A divisão da sociedade até o infinito nas raças mais diversas, que se enfrentam umas às outras com pequenas antipatias, más intenções e brutal mediocridade e que, precisamente em razão de sua mútua posição cautelosa são tratadas por seus senhores, Sem exceção e com algumas diferenças, como existências sujeitas a suas concessões. Até isto, até o fato de se verem dominadas, governadas e possuídas tem que ser reconhecido e confessado por elas como uma concessão do céu! E, por outro lado, aqueles senhores, cuja grandeza se encontra em relação inversa ao numero delas!
A crítica que se ocupa deste conteúdo é a crítica da competição. Durante a competição não interessa saber se o adversário é nobre, da mesma categoria, se é um adversário interessante; trata-se de vencê-lo. Trata-se de não conceder aos alemães nem um só instante de ilusão e de resignação. Há que tornar a opressão real ainda mais opressiva, acrescentando àquela a consciência da opressão; há que tornar a infâmia ainda mais infamante, ao proclamá-la. Há que pintar a todas e a cada uma das esferas da sociedade alemã como a
partie honteuse [partes pudendas] da sociedade alemã; há que obrigar estas relações escravizadas a dançar, cantando-lhes sua própria melodia. Há que ensinar o povo a ter pavor de si mesmo, para infundir-lhe ânimo. Com isto, se satisfaz uma indisfarçável necessidade do povo alemão; as necessidades dos povos são, em sua própria pessoa, os últimos fundamentos de sua satisfação.
Esta luta contra o
status quo alemão tampouco carece de interesse para os povos modernos, pois o
status quo alemão é a consagração franca e sincera do antigo regime, e o antigo regime, a debilidade oculta do Estado moderno. A luta contra o presente político alemão é a luta contra o passado dos povos modernos; as reminiscências deste passado continuam a pesar ainda sobre eles e a oprimi-los. É instrutivo para estes povos ver como o antigo regime, que neles conheceu sua tragédia, representa agora sua comédia; é instrutivo para estes povos vê-lo como o espectro alemão. Sua história foi trágica enquanto encarnou o poder preexistente do mundo e a liberdade como uma ocorrência pessoal; numa palavra, enquanto acreditou e devia acreditar na sua legitimidade.
Enquanto o antigo regime e a ordem existente no mundo lutavam contra um mundo em estado de gestação, traziam de sua parte um erro histórico-universal e não de caráter pessoal. Portanto, sua catástrofe foi trágica. Pelo contrário, o atual regime alemão, que é um anacronismo, uma contradição flagrante com todos os axiomas geralmente reconhecidos, a nulidade do antigo regime posta em evidência frente ao mundo inteiro, só imagina crer em si próprio e exige do mundo a mesma fé ilusória. Se acreditasse em seu próprio ser, acaso iria escondê-lo sob a aparência de um ser estranho e procurar sua salvação na hipocrisia e no sofisma? Não, o moderno regime antigo já não é mais do que o comediante de uma ordem social cujos heróis reais já morreram. A história é conscienciosa e passa por muitas fases antes de enterrar as velhas formas. A comédia é a última fase de uma forma histórico universal. Os deuses da Grécia, já tragicamente feridos no Prometeu acorrentado de Ésquilo, morreram ainda outra vez, comicamente, nos colóquios de Luciano. Por que esta trajetória histórica? Para que a humanidade possa separar-se alegremente de seu passado. Este alegre destino histórico é que nós reivindicamos para as potências políticas da Alemanha.
Não obstante, tão logo a moderna realidade político-social se veja submetida à crítica, isto é, tão logo a crítica ascende ao plano dos problemas verdadeiramente humanos é que se encontra fora do
status quo alemão, pois de outro modo abordaria seu objeto por baixo de si mesma. Um exemplo: a relação entre a indústria, o mundo da riqueza em geral e o mundo político é um problema fundamental da época moderna. De que forma este problema começa preocupar os alemães? Sob a forma de normas protetoras, de sistema proibitivo, da economia nacional. O germanismo passou dos homens a matéria e, um belo dia, nossos donos do algodão e nossos heróis do ferro viram-se convertidos em patriotas. Assim, pois, na Alemanha começa-se pelo reconhecimento da soberania do monopólio rumo ao interior, conferindo-lhe a soberania rumo ao exterior. Isto significa que na Alemanha se começa por onde terminam a França e a Inglaterra. A velha situação insustentável contra a qual se levantam teoricamente estes países e que só são suportáveis como são suportados os grilhões, é saudada na Alemanha como a primeira luz do amanhecer de um belo futuro, que apenas se atreve a passar de uma ladina teoria à mais implacável prática. Enquanto na França e na Inglaterra o problema é colocado em termos de economia política ou império da sociedade sobre a riqueza, na Alemanha os termos são outros: economia nacional ou império da propriedade privada sobre a nacionalidade. Portanto, na França e na Inglaterra trata-se de abolir o monopólio, que chegou a suas últimas conseqüências; na Alemanha, trata-se de levar o monopólio a suas últimas conseqüências.
No primeiro caso, trata-se da solução; no segundo, simplesmente da contradição. Exemplo suficiente da forma alemã que ali adotam os problemas modernos, de como nossa história, tal qual o recruta imbecil, não teve até agora outra missão senão a de praticar a repetir exercícios já feitos. Por conseguinte, se todo o desenvolvimento da Alemanha não saísse dos marcos do desenvolvimento político alemão, um alemão apenas poderia, muito bem, participar dos problemas do presente, do mesmo modo como um russo deles pode participar.
Mas, se um indivíduo livre não se acha vinculado às cadeias da nação, ainda menos livre se vê a nação inteira diante da libertação de um indivíduo. Os citas não investiram um só passo contra a cultura grega porque a Grécia contasse um deles entre seus filósofos. Por sorte, nós, alemães, não somos citas. Assim como os povos antigos viveram sua pré-história na imaginação, na mitologia, nós, alemães, vivemos nossa pós-história no pensamento, na filosofia. Somos contemporâneos filosóficos do presente, sem ser seus contemporâneos históricos. A filosofia alemã é o prolongamento ideal da história da Alemanha. Portanto, se ao invés das
oeuvres incompletes [Obras incompletas] de nossa história real, criticamos as
oeuvres posthumes [Obras póstumas] de nossa história ideal, a filosofia, nossa crítica figura no centro dos problemas dos quais diz o presente:
That is the question [Eis a questão].
O que para os povos progressistas é a ruptura prático com as situações do Estado moderno, na Alemanha, onde estas situações nem sequer existem, isto significa, antes de mais nada, a ruptura crítica com o reflexo filosófico destas situações. A filosofia alemã do Direito e do Estado é a única história alemã que se acha a par com o presente oficial moderno. Por isto, o povo alemão não tem outro remédio senão incluir também esta sua história feita de sonhos entre suas situações existentes e submeter à crítica não só estas mesmas situações mas, também e ao mesmo tempo, seu prolongamento abstrato.
O futuro deste povo não pode limitar-se nem à negação de suas condições estatais e jurídicas reais, nem à execução indireta das condições ideais de seu Estado e de seu direito, já que a negação direta de suas condições reais já está envolvida em suas condições ideais e a execução indireta de suas condições ideais quase a fez sobreviver ao contemplá-las nos povos vizinhos. Assim, ao reclamar a negação da filosofia, o partido político prático da Alemanha tem toda razão. Seu erro não reside na exigência, mas em deter-se na simples exigência, que não coloca nem pode colocar seriamente em prática. Acredita colocar em prática aquela negação pelo fato de voltar as costas à filosofia e de resmungar, olhando para o lado oposto, umas tantas frases banais e mal-humoradas. A limitação de seu horizonte visual não inclui também a filosofia da realidade alemã no Estreito de Bering, nem chega a imaginá-la quimericamente, inclusive, entre a prática alemã e as teorias que a servem. Exige-se uma conexão com os germes reais da vida, mas esquece-se que o germe real da vida do povo alemão só brotou, até agora, de sua caixa craniana. Numa palavra, não podereis superar a filosofia sem realizá-la.
A mesma injustiça, só que com fatores inversos, cometeu o partido político teórico, que partia da filosofia. Este partido só via na luta atual a luta crítica da filosofia com o mundo alemão, sem imaginar sequer que a filosofia anterior pertencia ela mesma a este mundo e era um complemento, ainda que apenas seu complemento ideal. Assumia uma atitude crítica frente à parte contrária, mas não adotava um comportamento crítico para consigo mesmo, já que partia das premissas da filosofia e, ou se detinha em seus resultados adquiridos ou apresentava como postulados e resultados diretos da filosofia, os postulados e resultados de outra origem, embora estes supondo que sejam legítimos - só podem manter-se de pé, pelo contrário, mediante a negação da filosofia anterior, da filosofia como tal.
Propomo-nos a tratar mais a fundo deste partido. Seu erro fundamental pode resumir-se assim: acreditava poder realizar a filosofia sem superá-la. A crítica da filosofia alemã do direito e do Estado, que encontra em Hegel sua expressão máxima, a mais conseqüente e a mais rica, é simultaneamente as duas coisas, tanto a análise crítica do Estado moderno e da realidade a ele relacionada como a negação decisiva de todo o modo anterior de consciência política e jurídica alemã, cuja expressão mais nobre, mais universal, elevada à ciência, é precisamente a mesma filosofia especulativa do direito.
Assim como a filosofia especulativa do direito - este pensamento abstrato e superabundante do Estado moderno cuja realidade continua a ser o além, apesar deste além se encontrar do outro lado do Reno - só poderia processar-se na Alemanha, assim também, por sua vez e inversamente, a imagem alemã, conceitual, do Estado moderno - abstraída do homem real - só se tornou uma possibilidade porque e enquanto o mesmo Estado moderno se abstrai do homem real ou satisfaz o homem total de modo puramente imaginário. Em política, os alemães pensam o que os outros povos fazem. A Alemanha era sua consciência teórica. A abstração e a arrogância de seu pensamento corria sempre em parelha com a limitação e a mesquinhez de sua realidade. Por conseguinte, se o
status quo do Estado alemão exprime a perfeição do antigo regime, o acabamento da lança cravada no Estado moderno, o
status quo da consciência do Estado alemão expressa a imperfeição do Estado moderno, a falta de consistência de seu próprio corpo.
Enquanto adversário decidido do modo anterior de consciência política alemã, o Estado orienta a crítica da filosofia especulativa do direito não para si mesma, mas para tarefas cuja solução exige apenas um meio: a prática. Indagamo-nos: pode a Alemanha chegar a uma prática à
la hauter des principes [à altura dos princípios], isto é, a uma revolução que a eleve não só ao nível oficial dos povos modernos mas, também, ao nível humano que será o futuro imediato destes povos!
As armas da crítica não podem, de fato, substituir a crítica das armas; a força material tem de ser deposta por força material, mas a teoria também se converte em força material uma vez que se apossa dos homens. A teoria é capaz de prender os homens desde que demonstre sua verdade face ao homem, desde que se torne radical.
Ser radical é atacar o problema em suas raízes. Para o homem, porém, a raiz é o próprio homem.
A prova evidente do radicalismo da teoria alemã e, portanto, de sua energia prática, consiste em saber partir decididamente da superação positiva da religião. A crítica da religião derruba a idéia do homem como essência suprema para si próprio. Por conseguinte, com o imperativo categórico mudam todas as relações em que o homem é um ser humilhado, subjugado, abandonado e desprezível, relações que nada poderia ilustrar melhor do que aquela exclamação de um francês ao tomar conhecimento da existência de um projeto de criação do imposto sobre cães: Pobres cães! Querem tratá-los como se fossem pessoas!
Até historicamente a emancipação teórica tem um interesse especificamente prático para a Alemanha. O passado revolucionário da Alemanha é, de fato, um passado histórico: é a Reforma. Como então no cérebro do frade, a revolução começa agora no cérebro do filósofo. Lutero venceu efetivamente a servidão pela devoção porque a substituiu pela servidão da convicção. Acabou com a fé na autoridade porque restaurou a autoridade da fé. Converteu sacerdotes em leigos porque tinha convertido leigos em sacerdotes. Libertou o homem da religiosidade externa porque erigiu a religiosidade no interior do homem. Emancipou o corpo das cadeias porque sujeitou de cadeias o coração.
Mas, se o protestantismo não foi a verdadeira solução, representou a verdadeira colocação do problema. Já não se tratava da luta do leigo com o sacerdote que existe fora dele, mas da luta com o sacerdote que existe dentro de si próprio, com sua natureza sacerdotal. E, se a transformação protestante do leigo alemão em sacerdote emancipou os papas leigos, os príncipes, com toda sua clerezia, se emancipou privilegiados e filisteus, a transformação filosófica dos alemães com espírito sacerdotal em homens emancipará o povo. Mas, do mesmo modo que a emancipação não se deteve nos príncipes, tampouco a secularização dos bens se deterá no despojo da igreja, realizada sobretudo pela hipócrita Prússia. A guerra dos camponeses, fato mais radical da história alemã, lançou-se contra a teologia. Hoje, com o fracasso da própria teologia, o fato mais servil da história alemã, nosso
status quo, se lançará contra a filosofia. As vésperas da Reforma, a Alemanha oficial era o servo mais submisso de Roma. As vésperas de sua revolução, é o servo submisso de algo menos que Roma, Prússia e Áustria, de fidalguetos rurais e filisteus.
Não obstante, uma dificuldade fundamental parece opor-se a uma revolução alemã radical. Com efeito, as revoluções necessitam de um elemento passivo, de uma base material. A teoria só se realiza numa nação na medida que é a realização de suas necessidades. Ora, ao imenso divórcio existente entre os postulados do pensamento alemão e as respostas da realidade alemã corresponderá o mesmo divórcio existente entre a sociedade alemã e o Estado e consigo mesma!
Não basta que o pensamento estimule sua realização; é necessário que esta mesma realidade estimule o pensamento. Todavia, a Alemanha não escalou simultaneamente com os povos modernos as fases intermediárias da emancipação política. Praticamente, não chegou sequer às fases que superou teoricamente. Como poderia, de um salto mortal, remontar-se não só sobre seus próprios limites, como também e ao mesmo tempo, sobre os limites dos povos modernos, sobre limites que na realidade devia sentir e aos quais devia aspirar como a emancipação de seus limites reais! Uma revolução radical só pode ser a revolução de necessidades radicais, cujas premissas e lugares de origem parecem faltar completamente.
Não obstante, se a Alemanha só abstratamente acompanhou o desenvolvimento dos povos modernos, sem chegar a participar ativamente das lutas reais deste, não é menos verdade que, de outro lado, partilhou os sofrimentos deste mesmo desenvolvimento, sem usufruir seus benefícios e satisfações parciais. A atividade abstrata de um lado, corresponde o sofrimento abstrato do outro. Assim, numa bela manhã, a Alemanha se encontrará em nível idêntico à decadência européia antes mesmo de haver atingido o nível da emancipação européia. Poderíamos compará-la a um idólatra que agonizasse, vítima do cristianismo.
Fixemo-nos, antes de mais nada, nos governos alemães, e os veremos de tal modo impulsionados pelas condições da época, pela situação da Alemanha, pelo ponto de vista da cultura alemã e, finalmente, por seu próprio instinto certeiro, a combinar os defeitos civilizados do mundo dos Estados modernos, cujas vantagens não possuímos, com os defeitos bárbaros do antigo regime, de que nos podemos jactar até a saciedade, que a Alemanha, senão por prudência, pelo menos à falta desta tem que participar cada vez mais da constituição de Estados que estão muito além de seu
status quo.
Acaso, por exemplo, há no mundo algum país que partilhe tão simplesmente como a chamada Alemanha constitucional todas as ilusões do Estado constitucional sem partilhar de suas realidades. Ou não teria que ser necessariamente uma ocorrência do governo alemão o fato de associar os tormentos da censura aos tormentos das leis de setembro na França, que pressupõem a liberdade de imprensa. Assim como no panteão romano se reuniam os deuses de todas as nações, no sacro império romano germânico se reúnem os pecados de todas as formas de estado. Que este ecletismo chegará a alcançar um nível até hoje inimaginado, o garante, de fato, o enfado estético-político de um monarca alemão que aspira desempenhar, se não através da pessoa do povo, pelo menos em sua própria, se não para o povo, pelo menos para si mesmo, todos os papéis da monarquia: a feudal e a burocrática, a absoluta e a constitucional, a autocrática e a democrática. A Alemanha, como a ausência do presente político constituído num mundo próprio, não poderá derrubar as barreiras especificamente alemães sem derrubar a barreira geral do presente político.
Para a Alemanha, o sonho utópico não é a revolução radical, não é a emancipação humana geral, mas, ao contrário, a revolução parcial, a revolução meramente política, a revolução que deixa de pé os pilares do edifício. Sobre o que repousa uma revolução parcial, uma revolução meramente política? No fato de emancipar uma parte da sociedade burguesa e de instaurar sua dominação geral, no fato de uma determinada classe empreender a emancipação geral da sociedade a partir de sua situação especial. Esta classe emancipa toda a sociedade, mas apenas sob a hipótese de que toda a sociedade se encontre na situação desta classe, isto é, que possua, por exemplo, dinheiro e cultura ou que possa adquiri-los.
Nenhuma classe da sociedade burguesa pode desempenhar este papel sem provocar um momento de entusiasmo em si e na massa, momento durante o qual confraterniza e se funde com a sociedade em geral, com ela se confunde e é sentida e reconhecida como seu representante geral, que suas pretensões e direitos são, na verdade, os direitos e ais pretensões da própria sociedade, que esta classe é realmente o cérebro e o coração da sociedade. Somente em nome dos direitos gerais da sociedade pode uma classe especial reivindicar para si a dominação geral. E, para atingir esta posição emancipadora e poder, portanto, explorar politicamente todas as esferas da sociedade em benefício da própria esfera, não bastam por si sós a energia revolucionária e o amor próprio espiritual.
Para que coincidam a revolução de um povo e a emancipação de uma classe especial da sociedade burguesa, para que uma classe valha por toda a sociedade, é necessário, pelo contrário, que todos os defeitos da sociedade se condensem numa classe, que uma determinada classe resuma em si a repulsa geral, que seja a incorporação do obstáculo geral; é necessário, para isto, que uma determinada esfera social seja considerada como crime notório de toda a sociedade, de tal modo que a emancipação desta esfera surja como autoemancipação geral. Para que um estado seja
par excellenee o estado de libertação, é necessário que outro seja o estado de sujeição por antonomásia. O significado negativo geral da nobreza e do clero franceses condicionou a significação positiva geral da classe inicialmente delimitadora e contraposta, da burguesia.
Todavia, todas as classes especiais da Alemanha carecem de conseqüência, rigor, arrojo e intransigência capazes de convertê-las no representante negativo da sociedade. Além do mais, todas carecem da grandeza de espírito que pudesse identificar uma delas, ainda que momentaneamente, com o espírito do povo; todas carecem da genialidade que infunde o entusiasmo do poder político ao poder material, da intrepidez revolucionária que lança o desafio ao inimigo: Nada sou e tudo deveria ser. Esse modesto egoísmo que faz valer e permite que outros também façam valer suas próprias limitações é o fundo básico da moral e da honradez de indivíduos e classes na Alemanha. Por isto, a relação existente entre as diversas esferas da sociedade alemã não é dramática, mas épica. Cada uma delas começa a sentir e a fazer chegar às outras suas pretensões, não ao se ver oprimida, mas quando as circunstâncias do momento, sem intervenção sua, criam uma base social sobre a qual, por sua vez, possa exercer pressão.
Até mesmo o amor próprio moral da classe média alemã repousa sobre a consciência de ser o representante geral da mediocridade filistéia de todas as demais classes. Portanto, não são apenas os reis alemães que ascendem ao trono mal à
propos [inoportunamente], mas todas as esferas da sociedade burguesa, que sofrem sua derrota antes de terem festejado a vitória, que desenvolvem seus próprios limites antes de terem ultrapassado os limites que se opõem a estes, que fazem valer sua pusilanimidade antes de fazer valer sua arrogância, de tal modo que até mesmo a oportunidade de desempenhar um grande papel desaparece antes de existir e que cada classe, tão logo começa a lutar com aquela que lhe está acima, vê-se envolvida na luta com aquela que lhe está abaixo. Daí porque os príncipes estão em luta contra a burguesia, os burocratas contra a nobreza e os burgueses contra todos eles, enquanto o proletário começa a lutar contra o burguês. A classe média nem sequer se atreve a conceber o pensamento da emancipação de seu ponto de vista, já que o desenvolvimento das condições sociais, do mesmo modo que o progresso da teoria política, se encarregam de revelar este mesmo ponto de vista como algo antiquado ou, pelo menos, problemático.
Na França, basta que alguém seja alguma coisa para querer ser todas as coisas. Na Alemanha, ninguém pode ser nada se não quiser renunciar a tudo. Na França, a emancipação parcial é o fundamento da emancipação universal. Na Alemanha, a emancipação universal é a
conditio sine que non de toda emancipação parcial. Enquanto na França é a realidade da emancipação gradual que tem de engendrar a liberdade total, na Alemanha, ao contrário, é justamente a sua impossibilidade. Na França, toda classe é um político idealista que se sente como representante das necessidades sociais em geral, ao invés de sentir-se como representante de uma classe especial. Por isto, o papel emancipador passa por turnos, em movimento dramático, entre as distintas classes do povo francês até atingir, finalmente, a classe que já não realiza a liberdade social sob a hipótese de certas condições que se encontram à margem do homem e que, não obstante, foram criadas pela sociedade humana, mas que organiza todas as condições de existência a partir da hipótese da liberdade social.
Pelo contrário, na Alemanha, onde a vida prática tão pouco tem de espiritual assim como a vida espiritual de prático, nenhuma classe da sociedade burguesa sente a necessidade nem a capacidade de emancipação geral até ver-se obrigada a isto por sua situação imediata, pela necessidade material, pelas suas próprias cadeias. Onde reside, pois, a possibilidade positiva da emancipação alemã? Resposta: na formação de uma classe com cadeias radicais, de uma classe da sociedade burguesa que não é uma classe da sociedade burguesa; de um estado que é a dissolução de todos os estados; de uma esfera que possui um caráter universal por seus sofrimentos universais e que não reclama nenhum direito especial para si, porque não se comete contra ela nenhuma violência especial, senão a violência pura e simples; que já não pode apelar a um título histórico, mas simplesmente ao título humano; que não se encontra em nenhuma espécie de contraposição particular com as conseqüências, senão numa contraposição universal com as premissas do Estado alemão; de uma esfera, finalmente, que não pode emancipar-se sem se emancipar de todas as demais esferas da sociedade e, simultaneamente, de emancipar todas elas; que é, numa palavra, a perda total do homem e que, por conseguinte, só pode atingir seu objetivo mediante a recuperação total do homem. Esta dissolução da sociedade como uma classe especial é o proletariado.
O proletariado só começa a surgir na Alemanha, mediante o movimento industrial que desponta, pois o que forma o proletariado não é a pobreza que nasce naturalmente, mas a pobreza que se produz artificialmente; não é a massa humana oprimida mecanicamente pelo peso da sociedade, mas aquela que brota da aguda dissolução desta e, em especial, da dissolução da classe média, ainda que gradualmente, como se compreende, venham a incorporar-se também a suas fileiras a pobreza natural e os servos cristãos-germânicos da gleba. Ao proclamar a dissolução da ordem universal anterior, o proletariado nada mais faz do que proclamar o segredo de sua própria existência, já que ele é a dissolução de fato desta ordem universal. Ao reclamar a negação da propriedade privada, o proletariado não faz outra coisa senão erigir a princípio de sociedade aquilo que a sociedade erigiu em princípio seu, o que já se personifica nele, sem intervenção de sua parte, como resultado negativo da sociedade.
O proletariado está amparado, então, em relação ao mundo que nasce, da mesma razão que assiste o rei alemão em relação ao mundo existente, ao denominar o povo seu povo, como ao cavalo seu cavalo. Ao declarar o povo sua propriedade privada, o rei se limita a expressar que o proprietário privado é o rei. Assim como a filosofia encontra no proletariado suas armas materiais, o proletariado encontra na filosofia suas armas espirituais. Com a mesma rapidez que o raio do pensamento penetra a fundo neste puro solo popular, se efetuará a emancipação dos alemães como homens.
Resumindo e concluindo: A única emancipação praticamente possível da Alemanha é a emancipação do ponto de vista da teoria, que declara o homem essência suprema do homem. Na Alemanha, a emancipação da Idade Média só é possível como emancipação paralela das superações parciais da Idade Média. Na Alemanha, não se pode derrubar nenhum tipo de servidão sem derrubar todo tipo de servidão em geral. A meticulosa Alemanha não pode revolucionar sem revolucionar seu próprio fundamento. A emancipação do alemão é a emancipação do homem. O cérebro desta emancipação é a filosofia; seu coração, o proletariado. A filosofia não pode se realizar sem a extinção do proletariado nem o proletariado pode ser abolido sem a realização da filosofia. Quando se cumprirem todas as condições interiores, o canto do galo gaulês anunciará o dia da ressurreição da Alemanha.
Karl Marx, 1843
Fonte: 4shared
 A educação e os comics: instantâneos brasileiros
A educação e os comics: instantâneos brasileiros