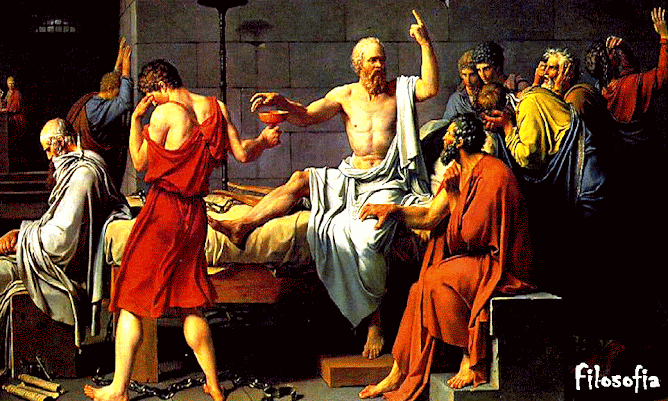Discurso da Servidão Voluntária
Etienne de La Boétie (1530-1536)
Homero conta que um dia, falando em público, Ulisses disse aos gregos: “Não é bom ter vários senhores, tenhamos um só”.
Se tivesse dito apenas: não é bom ter vários senhores, teria sido tão bom que nada poderia ser melhor. Mas em vez disso, e com mais razão, deveria ter dito que a dominação de vários não poderia ser boa, já que o poderio de um só é duro e revoltante quando este toma o título de senhor: ao contrário, vai acrescentar: tenhamos um só senhor.
Todavia, é preciso desculpar Ulisses por ter mantido esta linguagem – que lhe serviu então para apaziguar a revolta do exército – adaptando seu discurso, creio eu, mais à circunstância que à verdade. Mas com toda consciência, não é uma extrema infelicidade estar-se sujeito a um senhor de cuja bondade nunca é possível se certificar, e que sempre tem o poder de ser mau quando quiser? E obedecer a vários senhores não é ser tantas vezes extremamente infeliz? Não abordarei aqui esta questão tantas vezes agitada: "a república é ou não preferível à democracia?”. Se tivesse de discuti-la, antes mesmo de procurar a categoria que a monarquia deve ocupar entre os diferentes modos de governar a coisa pública, gostaria de saber se se deve atribuir-lhe uma, visto que é bastante difícil acreditar que nela haja realmente algo de público. Mas reservemos para um outro tempo essa questão que exigiria um tratado à parte e acarretaria por si mesma todas as disputas políticas.
No momento, gostaria apenas que me fizessem compreender como é possível que tantos homens, tantas cidades, tantas nações às vezes suportem tudo de um tirano só, que tem apenas o poder que lhe dão, que não tem o poder de prejudicá-los senão enquanto aceitam suportá-lo, e que não poderia fazer-lhes mal algum se não preferissem, a contradizê-lo, suportar tudo dele. Coisa realmente surpreendente (e no entanto tão comum que se deve mais gemer por ela do que surpreender-se) é ver milhões e milhões de homens miseravelmente subjugados e, de cabeça baixa, submissos a um jugo deplorável: não que a ele sejam obrigados por força maior, mas porque são fascinados e, por assim dizer, enfeitiçados apenas pelo nome de um que não deveriam temer, pois ele é só, nem amar, pois é desumano e cruel para com todos eles. Tal entretanto é a fraqueza dos homens! Forçados à obediência, forçados a contemporizar, divididos entre si, nem sempre podem ser os mais fortes. Portanto, se uma nação, escravizada pela força das armas, é submetida ao poder de um só (como foi a cidade de Atenas à dominação dos trinta tiranos), não é de se espantar que ela sirva, mas de se deplorar sua servidão, ou melhor, nem espantar-se nem lamentar-se: suportar o infortúnio com resignação e reservar-se para uma ocasião melhor no futuro.
Somos feitos de tal modo que os deveres comuns da amizade absorvem boa parte de nossa vida. Amar a virtude, estimar belas ações, ser gratos pelos benefícios recebidos, e, freqüentemente até, reduzir nosso próprio bem estar para aumentar a honra e a vantagem daqueles que amamos e que merecem ser amados – tudo isso é muito natural. Se, portanto, os habitantes de um país encontram entre eles um desses homens raros, que lhes tenha dado provas reiteradas de grande providência para garanti-los, de grande audácia para defendê-los, de grande prudência para governá-los; se insensivelmente, habituam-se a obedecê-lo, se até confiam nele a ponto de atribuir-lhe uma certa supremacia, não sei se tirá-lo de onde fazia o bem para colocá-lo onde poderá malfazer é agir com sabedoria; no entanto, parece muito natural e razoável ser bom para com aquele que nos trouxe tantos bens e não temer que o mal nos venha dele.
Mas, ó Deus!, o que é isso? Como chamaremos esse vício, esse vício horrível? Não é vergonhoso ver um número infinito de homens não só obedecer mas rastejar, não serem governados mas tiranizados, não tendo nem bens, nem parentes, nem crianças, nem sua própria vida que lhes pertençam? Suportando as rapinas, as extorsões, as crueldades, não de um exército, não de uma horda de bárbaros, contra os quais cada um deveria defender sua vida a custo de todo o seu sangue, mas de um só: não de um Hércules ou de um Sansão, mas de um verdadeiro homenzinho, amiúde o mais covarde, o mais vil, e o mais efeminado da nação, que nunca cheirou a pólvora das batalhas, quando muito pisou na areia dos torneios; que é incapaz não só de comandar os homens mas também de satisfazer a menor mulherzinha! Nomearemos isso covardia? Chamaremos de vis e covardes os homens submetidos a tal jugo? Se dois, três, quatro cedem a um, é estranho, porém possível: talvez se pudesse dizer, com razão: é falta de fibra. Mas se cem, se mil deixam-se oprimir por um só dir-se-ia ainda que é covardia, que não ousam atacá-lo, que por desprezo ou desdém não querem resistir a ele? Enfim, se não se vê que cem, mas cem países, mil cidades, um milhão de homens não atacarem, não esmagarem aquele que, sem prurido algum, trata-os todos como igual número de servos e de escravos – como qualificaríamos isso? Será covardia? Mas para todos os vícios há limites que não podem ser superados. Dois homens e até dez bem podem temer um, mas que mil, um milhão, mil cidades não se defendam contra um só homem! Oh! não é só covardia, ela não chega a isso – assim como a valentia não exige que um só homem escale uma fortaleza, ataque um exército, conquiste um reino! Que vício monstruoso então é esse que a palavra covardia não pode representar, para o qual toda expressão, que a natureza desaprova e a língua se recusa a nomear?
Que se ponham de um lado e outro cinqüenta mil homens em armas; que sejam alinhados em posição de combate; que passem às vias de fato; uns livres, combatendo por sua liberdade, ou os outros para roubá-la deles: com quem credes que a vitória ficará? Quais irão mais corajosamente ao combate: aqueles cuja recompensa deve ser a manutenção de sua liberdade, ou os que só esperam a servidão de outrem como salário de golpes dos golpes que dão e que recebem? Uns têm sempre diante dos olhos a felicidade da vida passada e a espera de alegria semelhante no futuro. Pensam menos nas penas, nos sofrimentos momentâneos da batalha do que nos tormentos que, uma vez vencidos, deverão suportar para sempre – eles, seus filhos e toda sua posterioridade. Os outros só tem com aguilhão uma pontinha de cupidez que de repente se embota diante do perigo e cujo ardor factício apaga-se, quase que imediatamente, no sangue do seu primeiro ferimento. Nas tão famosas batalhas de Milcíades, de Leônidas, de Temístocles, que datam de dois mil anos e ainda hoje vivem tão frescas nos livros e nas memórias dos homens, como se tivessem ocorrido recentemente na Grécia, para o bem da Grécia e exemplo para o mundo inteiro – o que deu a um número tão pequeno de gregos não o poder, mas a coragem para repelir essas frotas formidáveis, cujo peso o mar mal podia sustentar, para combater e vencer tantas e tão numerosas nações que, juntos, todos os soldados gregos não teriam igualado em número os capitães dos exércitos inimigos? Mas também, nessas gloriosas jornadas, tratava-se menos da batalha dos gregos contra os persas que da vitória da liberdade sobre a dominação, da libertação sobre a escravidão.
São verdadeiramente miraculosos os relatos da bravura que a liberdade põe no coração daqueles que a defendem! Mas o que faz com que, em toda parte e todos os dias, um homem só oprima cem mil cidades e as prive de liberdade? Quem poderia acreditar, se isso fosse apenas um ouvir-dizer e não ocorresse a cada instante sob nossos próprios olhos? Se esse fato ainda ocorresse em países longínquos, e nos viessem contá-lo, que de nós não o acharia imaginado e inventado sem motivo? E, no entanto, não é preciso combater este tirano, só, nem mesmo dele defender-se: ele se anula por si mesmo, desde que o país não consinta a servidão. Não se trata de lhe arrancar nada, mas apenas de nada lhe dar. Que uma nação não faça esforço algum para sua liberdade, se quiser, mas que ela própria não trabalhe para sua ruína. São os povos, portanto, que se deixam, ou melhor, se fazem manietar, pois quebrariam seus laços recusando-se apenas a servir. É o povo que se sujeita e se degola; que, podendo escolher entre ser súdito ou ser livre rejeita a liberdade e aceita o jugo, que consente seu mal, ou melhor, persegue-o. Eu não o exortaria, se recobrar sua liberdade lhe custasse alguma coisa – se bem que recuperar seus direitos naturais e, por assim dizer, de bicho voltar a ser homem, seja realmente o que deve mais interessá-lo. E, no entanto, não exijo dele tamanha audácia; nem quero que ambicione não sei que segurança de viver mais à vontade. Mas, quê! Se para ter a liberdade basta desejá-la, se para tanto basta o querer, haverá nação no mundo que creia pagá-la caro demais adquirindo-a com uma simples aspiração? E que lamente sua vontade de recobrar um bem que se deveria reaver a preço de sangue, e cuja simples perda torna a vida amarga e a morte benfazeja para qualquer homem honrado? Como o fogo de uma fagulha torna-se grande e sempre aumenta, e quanto mais lenha encontra mais a devora, mas se consuma e acaba, apagando-se por si mesma quando param de alimentá-lo - assim também, por certo, os tiranos, quanto mais pilham, mais exigem; quanto mais arruinam e destroem, mais se lhes oferece, mais o empanturram; eles se fortalecem na mesma medida e estão cada vez mais dispostos a tudo aniquilar e destruir; mas se nada se lhes dá, se não se lhes obedece, sem combatê-los, sem atacá-los, ficam nus e desfeitos – semelhantes à arvore que, não recebendo mais sumo e alimento de sua raiz, em breve é apenas um galho seco e morto.
Para adquirir o bem que deseja, o homem empreendedor não teme nenhum perigo, o trabalhador não é repelido por nenhuma pena. Só os covardes e os embotados não sabem suportar o mal nem recobrar o bem, que limitam-se a cobiçar. A energia para pretendê-lo é-lhes roubada por sua própria covardia; só lhes resta o desejo natural de possuí-lo. Esse desejo, essa vontade inata, comum aos sábios e aos loucos, aos corajosos e aos covardes, os faz desejar todas as coisas cuja posse os tornaria felizes e contentes. Uma só, não sei por que, os homens não têm nem mesmo a força de desejar. É a liberdade, bem tão grande e tão doce que, uma vez perdida, todos os males se seguem, e sem elas todos os outros bens inteiramente o gosto e o sabor, corrompidos pelo gosto e pela servidão. Parece-me que os homens desdenham unicamente a liberdade, porque, se a desejassem, tê-la iam; como se se recusassem a fazer esta conquista preciosa porque ela é demasiado fácil.
Pobre gente miserável, povos insensatos, nações obstinadas em vosso mal e cegas ao vosso bem, deixai roubar, sob vossos próprios olhos, o mais belo e o mais claro de vossa renda, pilhar vossos campos, devastar vossas casas e despojá-las dos velhos móveis de vossos ancestrais! Viveis de tal modo que nada mais é vosso. Parece que doravante considerareis uma grande felicidade se vos deixassem apenas a metade de vossos bens, de vossas famílias, de vossas vidas. E todos esse estrago, esses infortúnios, essa ruína, enfim, vos advém não dos inimigos, mas sim, por certo, do inimigo, e daquele mesmo que fizestes como ele é, por quem ides tão corajosamente às guerras e para a vaidade de quem vossas pessoas nela enfrentam a morte a cada instante. Esse senhor porém, só tem dois olhos, duas mãos, um corpo e nada além do que tem o último habitante do número infinito de vossas cidades. O que tem a mais do que vós são os meios que forneceis para destruir-vos. De onde tira os inúmeros argus que vos espiam, senão de vossas fileiras? Como tem tantas mãos para golpear-vos, se ele não as empresta de vós? Os pés com que espezinha vossas cidades também não são os vossos? Tem ele poder sobre vós senão por vós mesmos? Como ousaria atacar-vos se não estivesse conivente convosco? Que mal poderia fazer-vos se não fôsseis receptadores do ladrão que vos pilha, cúmplices do assassino que vos mata, e traidores de vós mesmos? Semeias vossos campos para que ele os devaste, mobiliais e encheis vossas casas para alimentar suas ladroeiras; educai vossas filhas para que ele possa saciar sua luxúria; alimentai vossos filhos para que faça deles soldados (esses ainda são felizes demais!), para que conduza-os à carnificina, torne-os ministros de suas cobiças, executores de suas vinganças. Consumi-vos no sofrimento para que ele possa mimar-se em suas delícias e chafurdar nos prazeres sujos. Enfraquecei-vos para que ele seja mais forte, mas duro, e que vos mantenha com a rédea curta; e de tantas indignidades, que os próprios bichos não sentiriam ou não suportariam, podeis vos livrar até sem tentar fazê-lo, apenas tentando querê-lo. Decidi não mais servir e sereis livre. Não quero que o enfrenteis nem que o abaleis; somente não mais o sustentai e o verei, como um grande colosso a quem subtraiu-se a base, cair com seu próprio peso e quebrar-se.
Os médicos dizem que é inútil procurar curar as feridas incuráveis e talvez eu esteja errado em querer dar tais conselhos ao povo que, há muito, parece ter perdido todo o sentimento do mal que o aflige - o que bem mostra que sua doença é mortal. Procurem no entanto descobrir, se possível, como enraizou-se tão profundamente esta obstinada vontade de servir, que, com efeito, deixa crer que o próprio amor da liberdade não é tão natural.
Em primeiro lugar creio não haver dúvida de que, se vivêssemos com que os direitos que recebemos da natureza e segundo os preceitos que ela ensina, seríamos naturalmente submissos a nossos pais, súditos da razão, mas escravos de ninguém. Quanto a saber se em nós a razão é inata ou não (questão debatida a fundo nas academias e longamente agitada nas escolas de filósofos), penso não errar, ao acreditar que em nossa alma existe um germe de razão que, reanimado pelos bons conselhos e bons exemplos, produzem em nós a virtude: ao contrário, esse mesmo germe aborta abafado pelos vícios que muitas vezes advém. Mas o que é claro e evidente para todos, é que a natureza, primeiro agente de Deus, benfeitora dos homens, criou-nos do mesmo modo e, de certa maneira, verteu-nos todos na mesma fôrma, para mostrar-nos que somos iguais, ou melhor, todos irmãos. E se, na partilha que nos fez de seus dons, prodigou algumas vantagens de corpo ou de espírito a uns mais que aos outros, entretanto nunca pôde querer colocar-nos neste mundo como num campo cerrado e não mandou para cá os mais fortes e os mais hábeis como bandidos armados numa floresta, para atacar os mais fracos. Antes, é de se crer que, atribuindo assim as partes – a uns maiores, aos outros as menores -, quis fazer nascer neles a afeição fraternal e colocá-los em condições de praticá-la, tendo uns o poderio de dar socorro e os outros necessidade de recebê-los. Em suma, posto que essa boa mãe deu-nos a todos a terra inteira por morada, alojou-nos todos debaixo do mesmo grande teto, e amassou-nos todos na mesma massa para que, com num espelho, pudesse reconhecer-se em seu vizinho; se nos deu a todos o belo presente da voz e da fala para que nos abordássemos e confraternizássemos, e através da comunicação e da troca de nossos pensamentos fôssemos levados à comunidade de idéias e de vontades; se procurou por todos os meios formar e estreitar o nó de nossas aliança, os vínculos de nossas sociedade; se, enfim, mostrou em todas as coisas o desejo que fôssemos não só unidos mas, juntos, fizéssemos por assim dizer um só ser – pode-se então duvidar um só instante de que sejamos todos iguais? e pode entrar no espírito de alguém que ela tenha querido alguns em escravidão, tendo nos postos todos na mesma companhia?
Mas em verdade não vale a pena discutir para saber se a liberdade é natural, pois nenhum ser pode ser mantido em servidão sem que ressinta um dano grave, e no mundo nada é mais contrário à natureza (cheia de razão) que a injustiça. O que dizer ainda? Que a liberdade é natural e que, em meu entender, não só nascemos com nossa liberdade como também com a vontade de defendê-la- E se por acaso houver quem ainda duvide e esteja tão abastardado a ponto de desconhecer os bens e as afeições inatas que lhe são próprios, é preciso que lhe faça a honra que merece e, por assim dizer, alce os bichos ao púlpito para ensinar-lhe sua natureza a condição. Os bichos (valha-me Deus!), se os homens quisessem compreendê-los, gritam-lhes: Viva liberdade! Vários deles morrem logo que são capturados. Como o peixe, que perde a vida quando o retiram da água, se deixam morrer para não sobreviverem à sua liberdade natural (se os animais tivessem entre si as categorias e preeminências, em meu entender. fariam da liberdade sua nobreza). Outros, dos maiores aos menorzinhos, quando são capturados, resistem tanto com as unhas, os chifres, os pés e o bico que por aí demonstram bastante seu apreço ao bem que lhes roubam. Uma vez capturados, dão-nos tantos sinais aparentes do sentimento de seu infortúnio, que é bonito vê-los desde então languir em vez de viver, não se comprazendo nunca na servidão e lamentando continuamente a privação de sua liberdade. Com efeito, o que significa a ação do elefante -que tendo se defendido até o limite, sem esperança, na iminência de ser capturado, bate sua mandíbula e quebra os dentes contra as árvores – senão que, inspirado pelo grande desejo de permanecer livre como é por natureza, concebe a idéia de negociar com os caçadores para ver se poderá libertar-se a troco de seus dentes; se deixando como resgate seu marfim, recobrará sua liberdade. E o cavalo! desde que nasce o preparamos para que obedeça; e no entanto nossos cuidados e carinhos não impedem que morda o freio quando queremos domá-lo, que escoicei quando o esporeamos; naturalmente querendo indicar desta maneira (parece-me) que se serve não é de bom grado, mas por imposição. O que diremos ainda?… Os próprios bois gemem sob o jugo, e os pássaros choram na gaiola. Como disse outrora em rima, nos meus instantes de lazer.
Em suma, se todo ser que tem o sentimento de sua existência sente o infortúnio da sujeição e procura a liberdade, se os bichos, até os criados para o serviço do homem, só podem se submeter depois de protestarem um desejo contrário -que vício infeliz pode então desnaturar o homem, o único que realmente nasceu para viver livre, a ponto de fazê-lo perder a lembrança de sua primeira condição e o próprio desejo de retomá-la?
Há três tipos de tirano. Falo dos maus Príncipes. Uns possuem o Reino por eleição do povo, outros pela força das armas e outros por sucessão da raça. Os que o adquiriram pelo direito de guerra comportam-se nele como em uma terra conquistada, com se bem sabe e se diz, com razão. Comumente, os que nascem reis não são melhores; nascidos e criados no seio da tirania, sugam com o leite o natural do tirano, consideram os povos a eles submetidos como seus servos hereditários; e segundo a tendência a que estão mais inclinados, avaros ou pródigos, se utilizam do Reino como de sua própria herança. Quanto àquele cujo poder vem do povo, parece que deveria ser mais suportável, e creio que o seria, desde que se visse a lugar tão alto, acima do todos os outros, lisonjeado por um não sei quê que chamam de grandeza, não tomasse a firme resolução de não descer mais. Quase sempre considera o poderio que lhe foi confiado pelo povo como se devesse ser transmitido a seus filhos. Ora, quando eles e ele conceberam esta idéia funesta, é realmente estranho ver como superam todos os outros tiranos em vícios de todo tipo e até em crueldades. Não encontram melhor maneira de consolidar sua nova tirania senão aumentando a servidão e afastando tanto as idéias de liberdade do espírito de seus súditos que, por mais recente que seja a sua lembrança, logo ela se apaga inteiramente de sua memória. Assim, para dizer a verdade, vejo bem alguma diferença entre estes tiranos, mas não que se possa fazer uma escolha: pois se chegam ao trono por caminhos diversos, sua maneira de reinar é quase sempre a mesma. Os escolhidos pelo podo tratam-no como um touro a ser domado; os conquistadores, como uma presa sobre a qual tem todos os direitos; os sucessores como um rebanho de escravos, que naturalmente, lhes pertence.
A propósito, perguntaria: se o acaso quisesse que hoje nascesse alguma gente inteiramente nova, que não estivesse acostumada com a sujeição nem atraída pela liberdade, que até os nomes de uma e de outra ignorasse, e a quem oferecesse a opção entre ser sujeitos ou viver livre, qual seria a sua escolha? Ninguém duvida de que prefeririam obedecer apenas à sua razão em vez de servir a um homem, a menos que fossem como os judeus de Israel que, sem motivos nem coerção alguma, deram a si mesmo um tirano, e cuja história nunca leio sem sentir uma extrema indignação que quase me levaria a ser desumano para com eles, a rejubilar-me com todos os males que depois lhes sucederam. Pois, para que os homens, enquanto neles resta vestígios de homem, se deixem sujeitar, é preciso uma das duas coisas: que sejam forçados ou iludidos; forçados pelas armas estrangeiras, como Esparta e Atenas o foram por Alexandre: ou pelas facções, como quando, muito antes deste tempo o governo de Atenas caiu nas mãos de Pisístrato. Iludidos, eles também perderam a liberdade; mas então, menos freqüentemente pela sedução de outrem do que por sua própria cegueira. Como o povo de Siracusa (outrora capital de Sicília), que assediado de todos os lados por inimigos, pensando apenas no perigo do momento e não prevendo o futuro, elegeu Dionísio I e entregou-lhe o comando geral do exército. O povo só percebeu que o tornara tão poderoso quando este hábil patife, retornando vitorioso à cidade, primeiro se fez capitão rei, e em seguida tirano, como se tivesse vencido seus concidadãos em vez de seus inimigos. Não se poderia imaginar até que ponto um povo, sujeitado assim pela patifaria de um traidor, cai no aviltamento e, mesmo, em um esquecimento tão profundo de todos os seus direitos, que é quase impossível acordá-lo de seu torpor para reconquistá-lo; servindo tão bem e de tão bom grado, que, ao considerá-lo, dir-se-ia que não perdeu apenas sua liberdade, mas também sua própria servidão, para se entorpecer na mais embrutecedora escravidão. É verdadeiro dizer que no início serve-se contra a vontade e à força; mais tarde acostuma-se, e os que vem depois, nunca tendo conhecido a liberdade, nem mesmo sabendo o que é, servem sem pesar e fazem voluntariamente o que seus pais só haviam feito por imposição. Assim, os homens que nascem sob o jugo, alimentados e criados na servidão, sem olhar mais longe, contentam-se em viver como nasceram; e como não pensam ter outros direitos nem outros bens além dos que encontram em sua entrada na vida, consideram como sua condição natural a própria condição de seu nascimento. No entanto, por mais pródigo e despreocupado que seja, não há herdeiro que um dia não ponha os olhos em seus registros para ver se goza de todos os direitos de sua herança e verificar se não usurparam os seus ou os de seus predecessores. Entretanto, o hábito, que e todas as coisas exerce um império tão grande sobre todas as nossas ações, tem principalmente o poder de ensinar-nos a servir: é ele que, a longo prazo (como nos contam de Mitridades, que acabou habituando-se ao veneno), consegue fazer-nos engolir, sem repugnância, a amarga peçonha da servidão. Não há dúvida de que, inicialmente, é a natureza que nos dirige segundo as tendências boas ou mas que nos deu; mas também é preciso concordar que ela tem ainda menos poder sobre nós do que o hábito; pois, por melhor que seja, o natural se perde se não é cultivado, enquanto o hábito nos conforma à sua maneira, apesar de nossas tendências naturais. As sementes do bem que a natureza põe em nós são tão frágeis e finas que não podem resistir ao menos choque das paixões nem à influência de uma educação que as contraria. Não se conservam bem, abastardam-se tão facilmente e até degeneram, como ocorre a essas árvores frutíferas que, tendo sua própria espécie, conservam-se enquanto as deixam crescer naturalmente; mas perdem-na para dar frutos completamente diferentes, logo que as enxertaram. As ervas também tem, cada uma, sua propriedade, seu natural, sua singularidade; mas no entanto, o frio, o tempo, o terreno ou a mão do jardineiro sempre deterioram ou melhoram sua qualidade; freqüentemente a planta que se viu em um país não é reconhecível em um outro. Aquele que visse em sua terra os Venezianos- punhado de gente que vive tão livremente que o mais infeliz dentre eles não almejaria ser rei, e todos nascidos e criados desta forma, não conhecem outra ambição senão a de vigiar ao máximo a manutenção de sua liberdade; de tal modo ensinados e formados desde o berço que não trocariam uma migalha de sua liberdade por todas as outras felicidades humanas - quem visse, digo, esses homens e em seguida, deixando-os, fosse aos domínios daquele que chamamos grão-senhor, ao encontrar ali pessoas que só nasceram para servir e que dedicam a vida toda ao poderio dele, pensaria que esses dois povos são da mesma natureza? Ou, em vez disso, acreditaria que, tendo saído de uma cidade de homens, entrou num parque de bichos? Contam que Licurgo, legislador de Esparta, criara dois cães, ambos irmãos, ambos amamentados com o mesmo leite, e os habituara, um na cozinha doméstica e o outro correndo pelos campos, ao som da trompa e do cornetim. Querendo mostrar aos Lacedemônios a influência da educação sobre o natural, expôs os dois cães na praça pública e colocou entre eles uma sopa e uma lebre. Vede, disse ele, e no entanto são irmãos! O legislador soube dar tão boa educação aos Lacedemônios, que cada um deles teria preferido sofrer mil mortes a submeter-se a um senhor ou reconhecer outras instituições que as de Esparta.
Sinto certo prazer ao lembrar aqui um dito dos favoritos de Xerxes, o grande rei da Pérsia, a respeito dos Espartanos: quando Xerxes fazia seus preparativos de guerra para dominar a Grécia inteira, enviou seus embaixadores a várias cidades do país pedindo água e terra (fórmula simbólica que os Persas empregavam para intimar as cidades a se renderem), mas evitou mandá-los a Esparta e Atenas, porque os Espartanos e os Atenienses - aos quais seu pai Dario já havia mandado fazer pedido semelhante - os tinham lançado uns nos fossos, outros em um poço, dizendo-lhes: “Pegai valentemente aí água e terra e levai ao vosso príncipe”. Com efeito, esses orgulhosos republicanos não podiam admitir que se atentasse contra sua liberdade, nem mesmo através da fala. Entretanto, por terem agido deste modo, os Espartanos reconheceram que haviam ofendido seus deuses e sobretudo Taltíbio, deus dos arautos. Resolveram então, para apaziguá-los, enviar a Xerxes dois de seus concidadãos para que, dispondo deles à vontade, pudesse vingar em suas pessoas a morte dos embaixadores de seus pais. Dois Espartanos, um chamado Espértias e o outro Búlis, se ofereceram como vítimas voluntárias. Partiram. Chegando ao palácio de um Persa chamado Hidarnes, comandante do rei para todas as cidades da Ásia que se situavam à beira-mar; este os recebeu com honrarias, e depois de vários outros discursos, perguntou-lhes porque rejeitavam tão orgulhosamente a amizade do Grande rei. “Vede, por meu exemplo, acrescentou, como o Rei sabe recompensar os que merecem, e acreditai que, se estivésseis a seu serviço e se ele vos tivesse conhecido, seríeis ambos governantes de alguma cidade grega”. “Quanto a isso, Hidarnes, não poderia dar-nos bom conselho – responderam os dois Lacedemônios; pois se provaste a felicidade que nos prometes, ignoras inteiramente a de que gozamos. Conheceste o favor de um rei mas não sabes como é doce a liberdade, nada sabes da alegria que ela proporciona. Oh! se tivesses apenas uma idéias, aconselhar-nos-ia a defendê-la, não só com a lança e com o escudo, mas com as unhas e os dentes.” Só os Espartanos diziam a verdade; mas aqui cada um falava conforme a educação que havia recebido. Pois era impossível que o Persa lamentasse a liberdade de que jamais gozara e os Lacedemônios, ao contrário, tendo saboreado a doce liberdade, nem mesmo concebiam que se pudesse viver na escravidão.
Catão de Útica, ainda criança e sob a férula do mestre, ia com freqüência visitar o ditador Sila, em casa de quem entrava livremente, tanto por causa da posição de sua família quanto dos laços de parentesco que os uniam. Nessas visitas, era sempre acompanho por seu preceptor, como era costume em Roma para os filhos dos nobres daquele tempo. Um dia viu que na própria casa de Sila, em sua presença ou por ordem sua, prendiam-se uns, condenavam-se outros; um era banido, o outro estrangulado; um propunha o confisco dos bens de um cidadão, o outro pedia sua cabeça. Em suma, tudo se passava ali como se fosse não a casa de um magistrado da cidade, mas a de um tirano do povo; e era muito menos o santuário que uma caverna de tirania. A nobre criança disse ao seu preceptor: “Por que não me dais um punhal? Eu o esconderei sob minha toga. Entro com freqüência no quarto de Sila antes dele se levantar.. .tenho o braço bastante forte para livrar a república dele.” Eis aí realmente o pensamento de um Catão; esse ra, com efeito, o início de uma vida tão digna de sua morte. E, no entanto, calai o nome e o país, contai o fato somente como é -ele fala por si mesmo – e imediatamente dir-se-á: essa criança era Romana, nascida em Roma, na Roma verdadeira, e quando ela era livre. Por que digo isso? Por certo não pretendo que o país e o solo aperfeiçoem nada, pois em toda parte e em todos os lugares a escravidão é odiosa para os homens e a liberdade lhes é cara; mas porque parece-me que se deve deve ter compaixão por aqueles que, ao nascerem, já sem encontram sob o jugo; que se deve desculpá-los ou perdoá-los se não ressentem o infortúnio de serem escravos, pois jamais viram a própria sombra da liberdade e nunca ouviram falar dela. Com efeito (como diz Homero dos Cimérios), se há países onde o sol se mostra de modo inteiramente diferente do que a nós e depois de tê-los iluminados durante seis meses consecutivos deixa-os na escuridão nos outros seis meses, seria espantoso que os que nascessem na longa noite, se não tivessem ouvido falar na claridade nem jamais visto o dia, se acostumassem às trevas em que nasceram e não desejassem a luz? Jamais se lamenta o que nunca se teve; o desgosto só vem depois do prazer e ao conhecimento do bem somente se junta a lembrança de alguma alegria passada. É da natureza do homem ser livre e querer sê-lo; mas muito facilmente toma uma outra feição, quando dada pela educação.
Digamos, então, que se todas as coisas que o homem se acostuma e se molda tornam-se naturais, entretanto, só ele permanece em sua natureza, que se habitua apenas às coisas simples e inalteradas; assim a primeira razão da servidão voluntária é o hábito; como ocorre com os mais bravos cortauds, que de início mordem o freio e depois descuram; que há pouco escoiceavam sob a sela e agora se apresentam por si mesmo sob os arreios brilhantes e, soberbos, empertigam-se e se empavoneiam sob a armadura que os cobre. Eles dizem que sempre foram sujeitos, que seus pais viveram assim. Pensam que são obrigados a suportar o freio, convencem-se com exemplos, e através do tempo eles mesmos consolidam a posse dos que o tiranizam. Mas os anos dão o direito de malfazer? E a injúria prolongada não é uma injúria maior? Sempre há alguns que, mais orgulhosos e inspirados que outros, sentem o peso do jugo e não podem se impedir de sacudi-lo; que jamais se submetem à sujeição e que sempre e incessantemente (como Ulisses, por terra e mar procurando rever a fumaça de sua casa) pretendem não esquecer seus direitos naturais, e esforçam-se por reinvidicá-los a cada oportunidade. Esses, tendo entendimento nítido e espírito clarividente, não se contentam, como os ignorantes empedernidos, em ver o que está a seus pés sem olhar para trás e para frente; ao contrário, lembram as coisas passadas para julgar mais sadiamente o presente e prever o futuro. São esses que, tendo o espírito por si mesmos correto, ainda o retificaram através do estudo e do saber. Estes, mesmo que a liberdade estivesse inteiramente perdida e banida deste mundo, reconduzi-lo-iam a ela; pois, sentindo-a vivamente, tendo-a saboreado e conservando-lhe o germe em seu espírito, jamais a servidão poderia seduzi-los, por mais que estivesse vestida.
O Grão-Turco deu-se conta de que os livres e a doutrina sã inspiram nos homens, mais que qualquer coisa, o sentimento de sua dignidade e o ódio da tirania. Além disso, li que no país que governa não há mais sábios, que ele não quer. E em todos os outros lugares, por maior que seja o número dos fiéis à liberdade, seu zelo e a afeição que lhe têm ficam sem efeito porque não sabem se entender. Os tiranos lhe roubam toda a liberdade de fazer, de falar e quase de pensar, e eles permanecem totalmente isolados em sua vontade a favor do bem. Portanto, é com razão que Momo censurava o homem forjado por Vulcano porque não tinha no coração uma janelinha por onde se pudesse ver seus pensamentos mais secretos. Contaram que, na ocasião de sua empresa para a libertação de Roma, ou melhor, do mundo inteiro, Bruto e Cássio não quiseram que Cícero – esse grande e belo declamador, se já houvesse algum – participasse dela, julgando seu coração fraco demais para feito tão elevado. Acreditavam muito em sua boa vontade, mas não em sua coragem. E, todavia, quem quiser se lembrar dos tempos passados e compulsar os anais antigos de quase todos aqueles que, ao verem seus país maltratado e em más mãos, tiveram o propósito de libertá-lo, conseguiram facilmente – pois, por conta própria, a liberdade sempre vem ajudá-los; como Harmódio, Aristogitão, Trasíbulo, Bruto, o velho, Valério e Dion, que conceberam um projeto tão virtuoso e executaram-no com êxito. Para tais façanhas quase sempre o firme querer garantiu sucesso. Cássio e Marco Bruto foram bem sucedidos ao ferirem César para libertar seus país da escravidão; é verdade que pereceram quando tentaram reconduzi-lo à liberdade – mas gloriosamente, pois quem ousaria encontrar algo reprovável em sua vida e sua morte? Ao contrário, esta foi um grande infortúnio e causou a ruína total da república que, parece-me, foi enterrado com eles. As outras tentativas feitas mais tarde contra os imperadores romanos não passaram de conjurações de alguns ambiciosos, cujo insucesso e fracasso não devem ser lamentados, pois é evidente que desejavam não derrubar o trono, mas apenas aviltar a coroa, visando somente a expulsar o tirano e conservar sua tirania. Quanto a estes, ficaria muito aborrecido que tivessem êxito, e estou contente de que, através de seu exemplo, tenham mostrado que não se deve abusar do santo nome da liberdade para realizar má intenção.
Mas voltando ao meu assunto, que quase perdera de vista: a primeira razão pela qual os homens servem voluntariamente é que nascem servos e são criados na servidão. Desta ocorre naturalmente esta outra: sob os tiranos, os homens nascem necessariamente covardes e efeminados, como, em meu entender, chamou a atenção bastante judiciosamente o grande Hipócrates, pai da medicina, num de seus livros intitulado Das Doenças. Esse homem, digno por certo, tinha bom coração e bem o mostrou quando o rei da Pérsia quis atrai-lo para junto de si, à força de ofertas e grandes presentes; pois respondeu-lhe francamente que teria problemas de consciência ao ocupar-se em curar os Bárbaros que queria destruir os Gregos e fazer algo que pudesse ser útil àquele que queria subjugar a Grécia, sua pátria. A carta que lhe escreveu a esse respeito encontra-se entre as outras obras, e testemunhará para sempre seu bom coração e seu belo caráter. Portanto, é certo que com a liberdade se perde imediatamente a valentia. Os escravos não tem ardor nem constância no combate. Só vão a ele como que obrigados, por assim dizer, embotados, livrando-se de um dever com dificuldade: não sente queimar em seu coração o fogo sagrado da liberdade, que faz enfrentar todos os perigos e desejar uma bela e gloriosa morte que nos honra para sempre junto aos nossos semelhantes. Entre os homens livres, ao contrário, é a porfia, cada qual melhor, todos por um e cada um por todos: sabem que colherão uma parte igual no infortúnio da derrota ou na felicidade da vitória; mas os escravos, inteiramente sem coragem e vivacidade, tem o coração baixo e mole, e são incapazes de qualquer grande ação. Disso bem sabem os tiranos; assim, fazem todo o possível para torná-los sempre mais fracos e covardes.
O historiador Xenofonte, um dos mais dignos e estimados entre os Gregos, fez um livro pouco volumoso onde se encontra um diálogo entre Simônides e Hierão, rei da Siracusa, a respeito das misérias do tirano. O livro é cheio de advertências boas e graves que, em meu entender, tem também uma graça infinita. Prouvera Deus que todos os tiranos que já o tivessem colocados diante de si como espelho. Certamente, nele teriam reconhecido seus próprios vícios e enrubescido de vergonha. O tratado fala do pesar sentido pelos tiranos que, ao prejudicarem a todos, são obrigados a temer todo mundo. Entre outras coisas, diz que os maus reis empregam tropas estrangeiras a seu serviço, pois não ousam mais pôr armas nas mãos de seus súditos; e para atingirem tal objetivo não consideravam a despesa que a manutenção exigia. Essa também era a opinião de Cipião (o grande Africano, creio eu), que dizia preferir ter salvo a vida de um cidadão a ter derrotado cem inimigos. Mas o que há mesmo de positivo é que o tirano jamais acredita assegurado o seu poderio se não chegou a ponto de só ter como súditos homens sem valor nenhum. Poder-se-ia dizer-lhe com razão o que, segundo Terêncio, Trasão dizia ao senhor dos elefantes: “Acreditai-vos corajoso porque havei domado bichos?”.
Porém, essa artimanha dos tiranos – bestializar seus súditos – nunca foi tão evidente quanto na conduta de Ciro para com os Lídios, depois que se apoderou de Sardes, capital da Lídia, e que capturou e levou cativo Creso, esse rei tão rico, que se rendera e se entregara à sua descrição. Trouxeram-lhe a notícia de que os habitantes de Sardes tinham se revoltado. Prontamente ele os teria reduzido à obediência. Mas, não querendo saquear uma cidade tão bela em ser sempre obrigado a nela manter um exército para dominá-la, descobriu um expediente extraordinário para assegurar sua posse: estabeleceu casas de devassidão e prostituição, tavernas e jogos públicos, e emitiu uma ordem que levava os cidadãos a se entregarem a todos esses vícios. Ficou tão satisfeito cm este tipo de guarnição que depois não precisou mais puxar da espada contra os Lídios. Essa gente miserável divertiu-se inventando todo tipo de jogo, de tal modo que os latinos formaram uma palavra com seu próprio nome, através da qual designavam o que chamamos passatempo e que eles nomeavam Ludi, corruptela de Lidi. Todos os tiranos não declaram tão expressamente que queriam efeminar seus súditos; mas, de fato, o que aquele ordenou tão formalmente, a maioria o fez veladamente. Na verdade, essa é a tendência bastante natural da porção ignorante do povo que, comumente, é a mais numerosa das cidades: desconfiada para com aquele que a ama e a ela se dedica, mas confiante para com aquele que lhe engana e trai. Não penseis que pássaro algum melhor caia no laço, nem que peixe algum, por gulodice, morda mais cedo e se aferre mais depressa ao anzol, qual todos estes povos que se deixam seduzir prontamente e levar para servidão pela menor doçura que lhe dizem ou que lhe fazem provar. É realmente maravilhoso que cedam tão rápido – basta que lhes façam cócegas. Os teatros, os jogos, as farsas, os espetáculos, os gladiadores, os bichos curiosos, as medalhas, os quadros e outras drogas desse tipo eram para os povos antigos a isca da servidão, a compensação por sua liberdade roubada, os instrumentos da tirania. Esse sistema, essa prática, esses atrativos eram os meios que os tiranos antigos empregavam para adormecer seus súditos na servidão. Assim, achando bonitos todos esses passatempos, entretidos por um prazer vão que lhes ofuscava, os povos embrutecidos habituavam-se a servir tão tolamente e até pior do que criancinhas aprendendo a ler com imagens de iluminuras. Os tiranos romanos ainda foram mais longe com esses meios, festejando freqüentemente os homens das decúrias, empanturrando essa gente embrutecida e adulando-a por onde é mais fácil de prender, pelo prazer da boca. Por isso, o mais instruído dentre eles não teria largado sua tigela de sopa para recobrar a liberdade da República de Platão. Os tiranos prodigalizavam amplamente o quarto do trigo, o sesteiro de vinho, o sestércio, e então dava pena ouvir gritar: Viva o rei! Os broncos não percebiam que, recebendo tudo isso, apenas recobravam uma parte de seu próprio bem, e que o tirano não teria podido dar-lhes a própria porção que recobravam se antes não a tivesse tirado deles mesmos:. O que hoje apanhava o sestércio, o que se empanturrava no festim público abençoando Tibério e Nero por sua liberalidade, no dia seguinte, ao ser obrigado a abandonar seus bens à cobiça, seus filhos à luxúria, sua própria condição à crueldade desses magníficos imperadores, ficava mudo como uma pedra e imóvel como um tronco. O povo ignorante e embrutecido sempre foi assim. Ao prazer que não pode receber honestamente é disponível e dissoluto; ao erro e à dor que não pode suportar razoavelmente, de todo insensível. Agora, não vejo ninguém que apenas ouvindo falar de Nero não trema à simples menção a esse monstro execrado, esse bicho feroz, ignóbil, e imundo; e no entanto é preciso dizer que após sua morte, tão nojenta quanto sua vida, o decantado povo romano sentiu tanto desgosto (lembrando de seus jogos e festins) que esteve a ponto de pôr luto. Pelo menos é o que nos afirma Cornélio Tácito, autor excelente, historiador dos mais verídicos e que merece todo o crédito. O que não é de se estranhar, se se considera o que esse mesmo povo fizera na morte de Júlio César, que espezinhou todas as leis e subjugou a liberdade romana. Parece-me que o que se exaltava principalmente neste personagem era sua humanidade que, embora, tão propalada, foi mais funesta ao seu país do que a maior crueldade do mais selvagem dos tiranos; pois, com efeito, foi essa falsa bondade, essa doçura envenenada que edulcorou a poção da servidão para o povo romano. Também após sua morte esse povo, que ainda tinha na boca o gosto de seus banquetes e no espírito a lembrança das suas prodigalidades, amontoou os bancos da praça pública para homenageá-lo com uma grande fogueira e reduziu seu corpo a cinzas; mais tarde ergue-lhe uma coluna como ao Pai da pátria (assim diz o capitel) e finalmente prestou-lhe homenagem póstuma maior do que deveria a homem do mundo, exceto àqueles que o tinham matado. Os imperadores romanos nunca esqueciam de tomar o título de tribuno do povo, tanto porque esse ofício era considerado santo e sagrado, como porque era estabelecido para defesa e proteção do povo, sendo o mais cotado no estado. Por esse meio garantiam que o povo confiaria mais neles, como se lhe bastasse ouvir o nome da magistratura sem sentir seus defeitos.
Mas não são muito melhores do que hoje, antes de cometerem seus crimes, até os mais revoltantes, sempre fazem, com que sejam precedidos por alguns belos discursos sobre o bem geral, a ordem pública e o consolo dos infelizes. Conheceis muito bem o formulário que usaram tão freqüente e perfidamente. Pois bem: em alguns deles nem há mais lugar para a finura, tamanho é o seu despudor. Os reis da Assíria, e, depois deles, os reis Medos, só apareciam em público o mais tardiamente possível para que o povo supusesse que neles havia algo sobre-humano e para deixar nesse devaneio a gente que constrói a imaginação sobre coisas que ainda não viu. Assim, tantas nações, que durante muito tempo foram dominadas por esses reis misteriosos, habituaram-se a servi-los, e os serviam de tão bom grado por ignorarem qual era o seu senhor, ou até se tinham um; de modo que, portanto, viviam no temor de um ser que ninguém tinha visto.
Os primeiros reis do Egito só se mostravam portando ora um ramo, ora fogo sobre a cabeça: mascaravam-se assim e se transformavam-se em mágicos. Isso, para através dessas formas estranhas, inspirar respeito e admiração em seus súditos, que só deveriam zombar e rir deles se não tivessem sido tão estúpidos ou tão aviltados. É realmente lastimável ouvir falar de tudo o que faziam os tiranos do passado para fundar sua tirania; de quantas mesquinharias se serviam para isso, encontrando sempre essa multidão ignorante, tão disposta que lhes bastava inventar uma armadilha para sua credulidade e ela caía; além disso, jamais tiveram tanta facilidade em enganá-la e jamais a sujeitaram melhor do que quando mais zombavam dela.
O que direi de uma outra bobagem que os povos antigos tomaram por verdade comprovada? Acreditavam piamente que o artelho de Pirro, rei de Epiro, fazia milagres e curava doenças das vísceras. Enfeitaram ainda mais esse conto, acrescentando que, quando o cadáver do rei foi queimado, o artelho achava-se entre as cinzas, intacto, e não atingido pelo fogo. Assim o próprio povo sempre fabricou tolamente contos mentirosos, para depois pôr neles uma fé incrível. Muitos autores os escreveram e repetiram, mas de tal modo, que é fácil ver que os colheram nas ruas e encruzilhadas. Eles dizem que Vespasiano, voltando da Assíria e passando por Alexandria para ir a Roma apoderar-se do Império, fez coisas milagrosas. Endireitava os coxos, tornava clarividentes os cegos, e ml outras coisas nas quais, em meu entender, só poderiam acreditar imbecis mais cegos que aqueles que pretendiam curar. Os próprios tiranos achavam extraordinário que os homens suportassem que um outro os maltratasse. De bom grado cobriam-se com o manto da religião e às vezes se fantasiavam com os atributos da divindade, para dar mais autoridade às suas más ações. Entre outros, Salmoneu, que, por ter zombado do povo querendo que ele acreditasse que era Júpiter, se encontra agora no fundo do inferno, onde (segundo a sibila de Virgílio que o viu lá) expia seu audacioso sacrilégio:
Vi de gigante corpo os dos Aloidas
Que, o céu mesmo escalando, acometeram
Derrubar do seu trono o rei supremo.
Vi Salmoneu penando, que o sonido
E os fuzis do tonante arremedara:
Tocha a brandir, em carro de dois tiros,
Por Elide ia avante, e à força os povos
O adoravam por deus; com o estrupido
Dos cornípedes néscio em érea ponte
Trovões fingia e o fogo inimitável:
Júpiter, fachos não, não fúmeas rédeas,
Sim contorce um corisco dentre as nuvens
E em turbilhão sulfúreo o precipita.
Se este que não passava de um tolo orgulhoso está sendo tão bem tratado lá embaixo, creio que esses miseráveis que abusaram da religião para fazer o mal serão mais justamente punidos, segundo o que fizeram.
Os nossos tiranos também semearam na França não sei quê: sapos, flores de lis, a âmabula, a auriflama. Coisas que, de minha parte, e como sói acontecer, ainda não quero que sejam apenas verdadeiras infantilidades, pois nossos antepassados acreditavam nelas e em nossas época não tivemos nenhuma ocasião para suspeitar delas como tais, tendo tido alguns reis tão bons na paz e tão intrépidos na guerra que, embora tenham nascido reis parece que a natureza não os fez como os outros, e que Deus os escolheu antes mesmo de seu nascimento para confiar-lhes o governo e a guarda deste reino. Ainda que tais exceções não existissem, não gostaria de entrar na discussão para debater a verdade de nossas histórias nem descascá-las livremente demais para não roubar esse belo tema, onde poderão esgrimir-se bem aqueles de nossos autores que se ocupam de nossa poesia francesa, não só melhorada, mas, por assim dizer, renovada por nossos poetas Ronsard, Baif, e du Bellay, fazendo nossa língua progredir tanto nesse aspecto que, ouso esperar, em breve não deixaremos nada a desejar aos Gregos e aos Latinos, exceto o direito de primogenitura. E com certeza eu prejudicaria muito nosso ritmo (com prazer uso essas palavras que me agradam), pois embora vários o tivessem tornado puramente mecânico, vejo contudo muitos autores capazes de enobrecê-lo e restituir-lhe seu primeiro lustro – digo: eu o prejudicaria muito se lhe roubasse os belos contos do rei Clóvis, nos quais parece-me, se exerce com tanto encanto e facilidade a verve do nosso Ronsard em seu Franciade. Pressinto seu alcance, conheço seu espírito fino e a graça de seu estilo. Ele usará a auriflama como os Romanos suas ancilas e os escudos atirados do céu, de que fala Virgílio. De nossa âmbula tirará tão bom partido quanto os Atenienses da corbelha de Erisictônio. Ainda falarão de nossas armas na torre de Minerva. Eu seria bastante temerário em desmentir nossos livros fabulosos e endurecer assim o terreno de nossos poetas. Mas voltando ao meu assunto, do qual não sei bem como me distanciei tanto: evidentemente, não é a fim de se consolidarem que os tiranos esforçaram-se continuamente para que o povo se habituasse não só à obediência e à servidão, mas também a uma espécie de devoção para com eles? Tudo o que disse aqui até sobre os meios empregados pelos tiranos para sujeitar só é por eles utilizado na parcela ignorante e grosseira do povo.
Agora chego a um ponto que, segundo creio, é o segredo e a força da dominação, o apoio e o fundamento de toda tirania. Muito se enganaria aquele que pensasse que as alabardas dos guardas e o estabelecimento de sentinelas garantem os tiranos. Em vez disso, acredito que se servem deles por forma e como espantalho, que não confiam neles. Os arqueiros barram a entrada dos palácios aos menos espertos, àqueles que não tem nenhum meio para incomodar, mas não aos audaciosos e bem armados que podem tentar alguma empresa. Certamente, é fácil contar que, entre os imperadores romanos, os que escaparam do perigo graças a seus arqueiros foram bem menos do que os mortos por seus próprios guardas. Não são os bandos de gente a cavalo, as companhias de gente a pé – em uma palavra, não são as armas que defendem um tirano (inicialmente, haverá alguma dificuldade em acreditar nisso, embora seja pura verdade), mas sempre quatro ou cinco homens que o apóiam e que para ele sujeitam o país inteiro. Sempre foi assim: cinco ou seis obtiveram o ouvido do tirano e por si mesmos dele se aproximaram ou, então, por ele foram chamados para serem os cúmplices de suas crueldades, os companheiros de seus prazeres, os complacentes para com suas volúpias sujas e os sócios de suas rapinas. Tão bem esses seis domam seu chefe que este se torna mau para com a sociedade, não só com suas próprias maldades, mas também com as deles. Esses seis tem seiscentos que debaixo deles domam e corrompem, como corromperam o tirano. esses seiscentos mantêm sob sua dependência seis mil, que dignificam, aos quais fazem dar o governo das províncias ou o manejo dos dinheiros públicos, para que favoreçam sua avareza e crueldade, que as mantenham ou exerçam no momento oportuno, aliás, façam tanto mal que só possam se manter sob sua própria tutela e isentar-se das leis e de suas penas através de sua proteção. Grande é a série dos que vêm depois deles. E quem quiser seguir o rastro não verá os seis mil, mas cem mil, milhões que por essa via se agarram ao tirano, formando uma corrente ininterrupta que sobe até ele. Como Homero diz de Júpiter, que se gaba de trazer a si todos os deuses ao puxar corrente semelhante. Daí procedia o aumento do poder do senado sob Júlio César, o estabelecimento de novas funções, a escolha para os cargos – considerando bem, certamente não para reorganizar a justiça, mas sim para dar novos sustentáculos à tirania. Em suma, pelos ganhos e parcelas de ganhos que se obtêm com os tiranos chega-se ao ponto em que, afinal, aqueles a quem a tirania é proveitosa são em número quase tão grande quanto aqueles para quem a liberdade seria útil. Como dizem os médicos, embora nada pareça estragado em nosso corpo, logo que algum tumor se manifesta, todos os humores se dirigem para a parte bichada; do mesmo modo, quando um rei declarou-se tirano, tudo o que é ruim, toda a escória do reino – não falo de um monte de gatunosinhos e de velhacos de má reputação que não podem fazer mal nem bem em um país, mas dos que, possuídos por ambição ardente e avareza notável, reúnem-se à sua volta e o apóiam para terem parte da presa e serem eles mesmo tiranetes sob o grande tirano. Assim são os grande ladrões e os famosos corsários: uns desnudam o país, os outros perseguem os viajantes; uns fazem emboscadas, os outros estão à espreita; uns massacram, os outros esfolam; e embora existam categorias e preeminências entre eles, e uns sejam apenas criados e os outros chefes de bando, no final não há nenhum que não lucre, senão com o espólio principal, ao menos com o resultado da busca. Dizem que os piratas Cicilianos não só reuniram-se em tão grande número que foi preciso enviar o grande Pompeu contra eles, mas que, além disso, atraíram para uma aliança várias belas cidades e grandes centros, em cujos portos punham-se a salvo ao voltarem de suas incursões, dando em troca, a essas cidades, parte das pilhagens que haviam receptado.
Assim o tirano subjuga os súditos uns através dos outros. É guardado por aqueles de quem deveria se guardar, se não estivessem aviltados; mas, como bem se disse, para rachar lenhas faz-se cunhas da própria lenha. Assim são seus arqueiros, seus guardas, seus alabardeiros. Não que eles mesmos freqüentemente não sofram com sua opressão, mas esses miseráveis, amaldiçoados por Deus e pelos homens, contentam-se em suportar o mal para fazê-lo, não àquele que lhe malfaz, mas aos que, como eles, o suportam e nada podem fazer. E. no entanto, quando penso nessa gente que adula o tirano com baixeza para explorar ao mesmo tempo sua tirania e a servidão do povo, surpreendo-me quase tanto com sua estupidez quanto com sua maldade. Pois, em verdade o que é aproximar-se do tirano senão distanciar-se da liberdade e, por assim dizer, abraçar a apertar com as duas mãos a servidão? Que por um momento ponham de lado sua ambição, que se livre um pouco de sua sórdida avareza, e depois, que se olhem, que considerem-se a si mesmos: verão claramente que os aldeões, ou camponeses que espezinham e tratam como forçados ou escravos, verão, digo, que esses, assim maltratados, são mais felizes e de certo modo mais livres do que eles. O lavrador e o artesão, por mais subjugados que sejam, ficam quites ao obedecer; mas o tirano vê os que o cercam trapaceando e mendigando seu favor. Não só é preciso que façam o que ordena mas também que pensem o que quer e, amiúde, para satisfazê-lo, que também antecipem seus próprios desejos. Não basta obedecê-lo, é preciso aguardá-lo, é preciso que se arrebentem, se atormentem, se matem dedicando-se aos negócios dele; e já que só se aprazem com o prazer dele, que sacrifiquem o seu gosto pelo dele, forcem seu temperamento e o dispam de seu natural. É preciso que estejam incessantemente atentos às palavras dele, à voz dele, aos olhares dele, aos mínimos gestos dele: que seus olhos, seus pés, suas mãos estejam incessantemente ocupados seguindo ou imitando todos os seus movimentos, espiando e adivinhando suas vontades e descobrindo seus mais secretos pensamentos. Isso é viver feliz? Isso é mesmo viver? Há no mundo algo mais insuportável que essa condição, não digo para todo homem bem nascido, mas apenas para aquele que tem grande bom senso ou mesmo figura de homem? Que condição é mais miserável que a de viver assim, nada tendo de seu e recebendo de um outro sua satisfação, sua liberdade, seu corpo e sua vida!!
Mas eles querem servir para amealhar bens: como se nada pudessem gerar que fosse deles, pois não podem dizer que se pertencem. E, como se alguém pudesse ter algo de seu sob um tirano, querem poder se dizer possuidores de bens e esquecem que são eles que dão, a ele, a força para roubar tudo de todos e não deixar nada de que se possa dizer que seja de alguém. No entanto, sabem que os bens tornam os homens mais dependentes de sua crueldade; que para ele e segundo ele nenhum homem crime é mais digno de morte que a independência ou a fortuna; que só ama as riquezas e ataca de preferência os ricos, que, entretanto, vêm se apresentar a ele como carneiros diante de um açougueiro. cheios e fartos, como que para excitar sua voracidade. esses favoritos não deveriam se lembrar tanto dos que ganharam muito em torno dos tiranos, mas dos que, tendo se enchido de ouro durante algum tempo, ali se perderam pouco depois os bens e a vida. Não devera passar-lhes tanto pela cabeça quantos ali adquiriram riquezas mas, em vez disso, quão poucos as conservaram. Que se percorram todas as histórias antigas, que se considerem as que estão em nossas lembrança, e ver-se-á perfeitamente como é grande o número daqueles que, tendo chegado até o ouvido dos príncipes por meios indignos, adulando suas tendências más ou abusando de sua simplicidade, acabaram sendo esmagados por esses mesmos príncipes, que tanto haviam proporcionado facilidade para elevá-los quanto foram inconstantes para conservá-los. Certamente, entre os muitos que se acharam próximos dos maus reis, poucos ou quase nenhum firam os que algumas vezes não experimentaram em si mesmos a crueldade do tirano, que antes haviam atiçados contra os outros, e que, tendo freqüentemente enriquecido com os despojos de outrem à sombra de seu favoritismo, não tenham eles próprios enriquecido os outros com seus próprios despojos.
As próprias pessoas de bem – se é que às vezes existe uma única amada pelo tirano- , por mais que sejam os primeiros em suas boas graças, por mais que nelas sejam brilhantes a virtude e a integridade, a ponto de, ao serem vistas de perto, sempre inspirarem algum respeito até aos maus, as pessoas de bem, digo, não poderiam sustentar-se junto do tirano; é preciso que também compartilhem do mal comum e que às suas custas sintam o que é a tirania. Pode-se citar alguns, como Sêneca, Burrus Tráseas, esta tríade de pessoas de bem, da qual as duas primeiras tiveram o infortúnio de se aproximar de um tirano que confiou-lhes a condução de seus negócios – ambos por ele estimados e queridos, um dos quais o havia educado e tinha como garantia de sua amizade os cuidados que lhe dera na infância – mas só esses três, cuja morte foi tão cruel, não são exemplo suficientes da pouca confiança que se deve ter nos maus senhores? E, na verdade, que amizade esperar daquele que tem o coração duro o bastante para odiar um reino que só faz obedecê-lo, e de um ser que, não sabendo amar, empobrece a si mesmo e destrói seu próprio império?
Ora, se se quer dizer que Sêneca, Burrus e Tráseas só sofreram esse infortúnio por serem gente de bem em demasia, que se procure francamente em torno do próprio Nero e ver-se-á que todos os que caíram em sua graça e nelas se mantiveram por suas maldades não tiveram fim melhor. Quem jamais ouviu falar de um amor tão desenfreado, de uma afeição tão persistente, quem jamais viu homem tão obstinadamente ligado a uma mulher quanto ele a Pópea? Pois bem. Não foi ela envenenada por ele mesmo? Agripina, sua mãe, para colocá-lo no trono não tinha matado seu próprio marido, Cláudio, feito tudo para favorecê-lo e até cometido todo tipo de crimes? E no entanto seu próprio filho, sua cria, aquele mesmo que ela havia feito imperador com sua própria mão, depois de tê-la humilhado, tirou-lhe a vida; ninguém negou que ela bem mereceu a punição, que geralmente seria aplaudida se tivesse sido infligida por outrem. Quem já foi mais fácil de manipular, mais simples – melhor dizendo, mais estúpido que o imperador Cláudio? Quem já foi mais traído pela mulher, do que ele por Messalina? No entanto, entregou-a ao carrasco. Os tiranos tolos são sempre tolos quando se trata de fazer o bem, mas não sei como, no fim por menos que tenham espírito, este acorda neles para usar de crueldade até contra aqueles que lhe são próximos. É bastante conhecido o dito atroz daquele que, vendo descoberta a garganta de sua mulher, daquela a que mais amava. sem a qual parecia que não teria podido viver, dirigiu-lhe um belo galanteio: “Se eu ordenar, esse belo pescoço será cortada daqui a pouco”. Eis por que, em sua maior parte, quase todos os tiranos antigos foram mortos por seus favoritos que, tendo conhecido a natureza da tirania, não estavam muito seguros da vontade do tirano, e continuamente desconfiavam de seu poderio. Assim do morto Domiciano por Estéfano; Cômodo por uma de suas amantes; Caracala pelo centurião marcial, instigado por Macrino, como quase todos os outros.
Certamente, o tirano nunca ama nem é amado. A amizade é um nome sagrado, uma coisa santa: só pode existir entre pessoas de bem, nasce da mútua estima e se mantém não tanto através de benefícios como através da boa vida e costumes. O que torna um amigo seguro do outro é o conhecimento de sua integridade. Como garantias, tem seu bom natural, sua fé, sua constância; não pode haver amizade onde se encontram a crueldade, a injustiça. Entre os maus quando se juntam, há uma conspiração, não uma sociedade. Eles não se entreapóiam mas se entretemem. Não são amigos, mas cúmplices.
Ora, mesmo quando tal impedimento não existisse, seria difícil encontrar uma amizade sólida em um tirano, pois estando acima de todos e não tendo par, já se encontra além dos limites da amizade, cuja sede só existe na mais eqüidade, suja marcha é sempre igual e onde nada é claudificante. Eis por que, dizem, há uma espécie de boa fé entre ladrões durante a partilha do roubo – pois são todos pares e companheiros, e se não se amar, ao menos temem entre si e não querem, desunindo-se, diminuir sua força. Mas os favoritos de um tirano nunca podem se garantir contra a sua opressão, porque eles mesmos ensinaram-lhe que ele tudo pode, que não há direito nem dever que o obrigue, que está habituado a só ter como razão a sua vontade, que não tem igual e é senhor de todos. Não é extremamente deplorável que, apensar de tantos exemplos fulgurantes e de um perigo tão real, ninguém queira se aproveitar dessas tristes experiências, que tanta gente ainda se aproxime de tão bom grado dos tiranos e que não haja um só que tenha a coragem e a ousadia de dizer-lhes o que diz (na fábula) a raposa ao leão, que se fingia de doente: “De bom grado iria te ver em tua cova; vejo muitas pegadas de bichos que vão a ti, mas não vejo uma só das que voltam para trás.”?
Esses miseráveis vêem reluzir os tesouros do tirano; espantados, admiram o brilho de sua magnificência, e, seduzidos por tal esplendor, se aproximam tão sem perceber que se jogam num fogo que não pode deixar de devorá-los. Assim o sátiro indiscreto, como diz a fábula, que, ao ver brilhar o fogo roubado pelo ponderado Prometeu, achou-o tão belo que foi beijá-lo e se queimou. Assim a borboleta que, esperando gozar de algum prazer, se joga na luz porque a vê brilhando, e logo sente que ela também tem a virtude de queimar, como diz Lucano. Mas suponhamos ainda que esses mignons escapem das mãos daquela a quem servem; nunca se salvam das do rei que o sucede. Se mau e semelhante ao seu antigo senhor, não pode deixar de ter também favoritos que, em geral, não contentes em roubar o lugar dos outros, ainda lhes arrancam os bens e a vida. Como pode então haver alguém que, diante de perigos tão grandes e com tão pouca segurança, queira tomar uma posição tão difícil, tão infeliz, e servir com tantos perigos a um senhor tão perigoso? Que sofrimento, que martírio, Deus do céu! estar noite e dia querendo agradar um homem e, no entanto, desconfiar dele mais do que qualquer outro do mundo; ter o olho sempre à espreita, a orelha à escuta, para espiar de onde virá o golpe para descobrir as emboscadas, para desvendar as tramóias de suas correntes, para denunciar quem trai o senhor; rir para cada um, temer a todos sempre, não ter inimigo reconhecido nem amigo certo; mostrar sempre um rosto sorridente e ter o coração transido: não poder ser alegre e não ousar triste.
Mas é realmente curioso considerar o que lhes sobra de todo esse grande tormento e o bem que podem esperar de seu sofrimento e dessa vida miserável. Geralmente, não é o tirano que o povo acusa do mal que sofre, mas aqueles que governam o tirano. Desses, o povo, as nações, todo mundo à porfíria, até os camponeses, os lavradores, sabem os nomes, descobrem os vícios, a esses cumulam de mil ultrajes, mil injúrias, mil maldições. Todas as imprecações. todos os votos são voltados contra eles. Todos os infortúnios, todas as pestes. todas as fomes são a eles imputados pelos que chamam de sujeitos; e se às vezes aparentemente lhes prestam algumas homenagens, no mesmo momento os amaldiçoam no fundo da alma, e os abominam mais que aos bichos ferozes. Eis a glória, eia a homenagem que colhem por seu serviço, aos olhos dessa gente, a qual (parece-me), ainda não estaria satisfeita, nem mesmo meio consolada, com seus sofrimentos, se cada uma pudesse ter um pedaço de seu corpo. E , mesmo quando esses tiranos não existem mais, os escritores que vêm depois deles não deixam de enegrecer de mil maneiras a memória desses comedores de povos. Sua reputação é despedaçada em mil palavras, seus próprios ossos são, por assim dizer, arrastados na lama pela posteridade, e tudo isso como que para puni-los, ainda após sua morte, por sua vida vil.
Aprendemos pois, enfim, aprendamos a fazer o bem. Levantamos os olhos para o céu e para nossa honra, para o próprio amor da virtude. dirijamo-nos a Deus todo-poderoso, testemunha de todos os nossos altos e juiz de nossas almas. De minha parte, creio- e acredito não estar enganado- que ele sem dúvida reserva para os tiranos e seus cúmplices um castigo terrível no fundo do inferno, pois nada é mais contrário a Deus, soberanamente justo e bom, que a tirania.