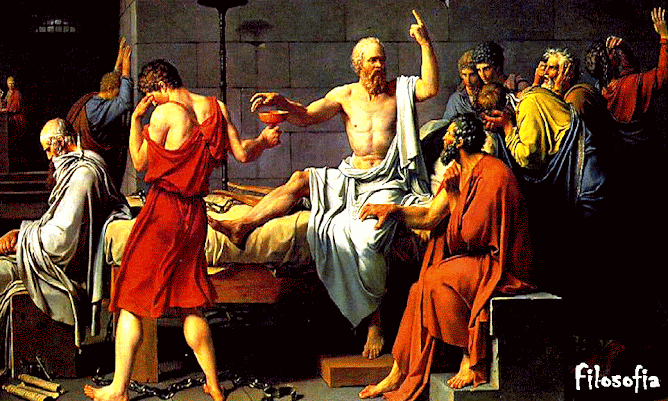RICOEUR, P. 2007. A Memória, a história, o esquecimento. Campinas, Unicamp, 536 p.
RICOEUR, P. 2007. A Memória, a história, o esquecimento. Campinas, Unicamp, 536 p.Por Roberto Lauxen
E-mail: rrlauxen@yahoo.com.br
Fonte: Revista Filosofia UNISINOS
A Memória, a história e o esquecimento (2007) é a tradução brasileira de uma das últimas obras de Paul Ricoeur (1913-2005). Como é característica de seu empreendimento teórico fragmentário, esta obra vem preencher certa “lacuna” no seu percurso intelectual mais recente. Memória e esquecimento, são “níveis intermediários” entre a experiência temporal humana e a operação narrativa, temas amplamente discutidos em Tempo e narrativa, e Si-mesmo como um outro, obras com as quais podemos conceber um vínculo mais direto.
Há certo exagero em ver neste livro uma espécie de “suma” do trabalho do autor, como menciona Mario Seligmann-Silva na orelha da tradução de Alain François, embora haja uma continuidade de seu engajamento teórico mais reconhecido e uma reconciliação com as tradições fenomenológica e historiográfica da França. Há também a retomada de temas que estão em continuidade com seu projeto da juventude como Finitude e culpabilidade e a coletânea de ensaios História e verdade. Mas é claro que só devemos compreender essa retomada num movimento em espiral, após um longo desvio de percurso.
A complexidade da obra exigiu que o autor inaugurasse um novo recurso, as “notas de orientação” que pipocam a cada novo capítulo. A parte dois e três é precedida também de um prelúdio que tem a intenção de apresentar a tensão entre memória e história e história e existência. Esse é o motivo de não haver prelúdio na primeira parte.
Cada parte do livro, dividido em três capítulos, desenvolve níveis metodológicos distintos. A primeira parte é decisiva, uma vez que as aporias da memória repercutem em toda a obra. O mesmo pode ser dito do esquecimento, que é anunciado em todo o percurso e fi gura em pé de igualdade com memória e história, pois essa dupla dimensão do passado se perde quando há esquecimento.
A primeira parte desenvolve uma fenomenologia da memória, que parte da convicção do autor, face a Husserl, da primazia da intencionalidade objetal sobre a problemática egológica. Essa decisão metodológica joga o problema do sujeito da memória para o último capítulo dessa primeira parte. No plano da memória, a primazia concedida durante muito tempo à questão “quem”, à idéia de que o sujeito gramatical da memória é o “eu”, suscitou um grande impasse, com a entrada em cena da memória coletiva. Ricoeur parte primeiro da coisa (“o quê?”) para, na seqüência, tratar da questão do sujeito (“quem?”) que, então, será extensiva a todas as pessoas gramaticais, ao si, aos outros, aos estrangeiros, aos próximos, constituindo a memória coletiva de interesse particular para a história.
A intencionalidade objetal da memória revela uma primeira aporia, o aspecto cognitivo e pragmático que remete ao uso dos termos gregos mnèmè e anamnèsis, os quais signifi cam, respectivamente, ter uma lembrança e ir em busca dessa lembrança. Assim, a memória é dada e exercida e a questão “o quê?” desdobra-se na questão “como?”. Essa aporia subdivide os dois primeiros capítulos da primeira parte. O desejo de reconhecimento de uma coisa ausente ocorrida antes joga um papel decisivo em todo o percurso do texto. Por isso, a afi rmação de Aristóteles de que “a memória é do passado” permite a Ricoeur enfrentar a aporia entre memória e imagem (eikon), vinculando a memória à temporalidade da condição humana. Essa mesma aporia repercute no plano da história, pela sobreposição entre narrativa histórica e ficção literária.
A memória, enquanto exercida na prática, está exposta à aporia do uso e abuso. O autor explora a larga tradição das técnicas de memorização (ars memoriae). A memória, enquanto exercida, é, ainda, impedida (enferma) no nível patológicoterapêutico; manipulada, em função da manutenção da identidade individual e coletiva (ideologia). A memória coletiva integra e forma a identidade do grupo mediante datas comemorativas e outros expedientes. Além disso, a memória pode ser uma obrigação (dever de memória) um “recorda-te” que também é um “não te esqueças” relacionado a acontecimentos traumatizantes de nosso século, em especial a Shoah.
O que o autor denomina “dever de memória”, que, em seu desdobramento semântico, pode ser entendido como um dever de fazer justiça à vítima, com a qual contraímos uma dívida que temos obrigação de saldar, está situada no contexto do uso e abuso. Esse problema moral é também evocado em relação ao esquecimento e ao perdão. Embora ele conteste a idéia de um “dever de esquecer” e da anistia, na terceira parte, não descarta a possibilidade da reconciliação com o passado por meio da perspectiva escatológica do perdão.
A demanda de uma “política da justa memória” (p. 17) reivindicada pelo autor como um de seus temas de reconhecimento público encontra seu limite a partir da mediação da análise fenomenológica, epistemológica e hermenêutica, que apenas toca de leve na questão moral.
A segunda parte da obra desenvolve uma epistemologia da história. A tese constante é a de que a história é uma escrita, por isso o autor transporta para a escrita histórica o mito platônico do Fedro sobre a invenção da escrita, a saber, se ela é remédio (pharmakon) ou veneno da memória. Esse é o eixo da argumentação na segunda parte que prolonga um diálogo interrompido com historiadores “sobre os vínculos entre a memória e a história” (p. 17).
Embora o autor reconheça que seu livro é “uma apologia da memória como matriz da história” considera perigosa a “reivindicação da memória contra a história” (p. 100) pelo excesso de comemoração de memórias feridas e passionais quando se sobrepõem ao “enfoque mais vasto e crítico da história” (p. 102). As aporias da memória da primeira parte refl etem-se no plano da história. Seguindo o esquema de Michel de Certeau, o autor propõe-se a explicitar as três fases (imbricadas) da operação historiográfi ca, que estruturam os três capítulos da segunda parte: fase documental, fase explicativa/compreensiva e fase reconstrutiva. Apenas nessa última fase tem-se “a intenção de representar em verdade as coisas passadas” (p. 147), a partir da qual se define o projeto do historiador.
É precisamente no nível de uma hermenêutica da condição histórica, terceira parte da obra, que podemos avaliar a intensidade do julgamento histórico que extrapola o agenciamento epistemológico e documental da história. A hermenêutica da condição histórica vem ocupar o lugar de uma fi losofi a especulativa da história. Suscita dois tipos de investigações, uma crítica e outra ontológica: crítica, porque impõe “limites a qualquer pretensão totalizadora ligada ao saber histórico” (p. 299) e valida as operações objetivantes que regulam a escritura da história; ontológica, porque explicita a estrutura do nosso modo de ser histórico a partir do qual compreendemos a história.
Por intermédio dessa hermenêutica da condição histórica, “a representação do passado” aparece confiada à nossa custódia, também “exposta às ameaças do esquecido” (p. 18). “O esquecimento é o emblema de quão vulnerável é nossa condição histórica” (p. 300). Há esquecimento onde houve marca, por isso se relaciona com a memória e a fi delidade ao passado, sendo seu pólo oposto. O esquecido não é só o inimigo da memória e da história, há uma fi gura positiva do esquecido, o “esquecido de reserva”, que constitui um recurso irredutível e “reversível” a qualquer balanço de fiabilidade com o passado, por meio da memória ou da história. É uma existência inconsciente do recordar-se que pode reaparecer com a força da impressão original e que atesta nossa persistência na existência, o que evoca o conatus de Spinoza.
O perdão aparece apenas no epílogo, porque é “um componente suplementar” (p. 300) da obra e faz referência à culpabilidade e à reconciliação com o passado, por isso “propõe-se como horizonte escatológico de toda a problemática da memória, da história e do esquecimento” (p. 301). O perdão quebra a dívida, mas não a esquece, é um esquecimento da dívida, não do fato. O perdão não é uma exigência, mas um pedido que deve enfrentar a recusa, o imperdoável. O perdão é incógnito, é sem conhecimento possível, pois se trata de gestos inatingíveis que rompem a esfera do ódio e da vingança; é um desafio impossível, entretanto aceitável. Por isso, o perdão é possível, mas difícil.
Há certo exagero em ver neste livro uma espécie de “suma” do trabalho do autor, como menciona Mario Seligmann-Silva na orelha da tradução de Alain François, embora haja uma continuidade de seu engajamento teórico mais reconhecido e uma reconciliação com as tradições fenomenológica e historiográfica da França. Há também a retomada de temas que estão em continuidade com seu projeto da juventude como Finitude e culpabilidade e a coletânea de ensaios História e verdade. Mas é claro que só devemos compreender essa retomada num movimento em espiral, após um longo desvio de percurso.
A complexidade da obra exigiu que o autor inaugurasse um novo recurso, as “notas de orientação” que pipocam a cada novo capítulo. A parte dois e três é precedida também de um prelúdio que tem a intenção de apresentar a tensão entre memória e história e história e existência. Esse é o motivo de não haver prelúdio na primeira parte.
Cada parte do livro, dividido em três capítulos, desenvolve níveis metodológicos distintos. A primeira parte é decisiva, uma vez que as aporias da memória repercutem em toda a obra. O mesmo pode ser dito do esquecimento, que é anunciado em todo o percurso e fi gura em pé de igualdade com memória e história, pois essa dupla dimensão do passado se perde quando há esquecimento.
A primeira parte desenvolve uma fenomenologia da memória, que parte da convicção do autor, face a Husserl, da primazia da intencionalidade objetal sobre a problemática egológica. Essa decisão metodológica joga o problema do sujeito da memória para o último capítulo dessa primeira parte. No plano da memória, a primazia concedida durante muito tempo à questão “quem”, à idéia de que o sujeito gramatical da memória é o “eu”, suscitou um grande impasse, com a entrada em cena da memória coletiva. Ricoeur parte primeiro da coisa (“o quê?”) para, na seqüência, tratar da questão do sujeito (“quem?”) que, então, será extensiva a todas as pessoas gramaticais, ao si, aos outros, aos estrangeiros, aos próximos, constituindo a memória coletiva de interesse particular para a história.
A intencionalidade objetal da memória revela uma primeira aporia, o aspecto cognitivo e pragmático que remete ao uso dos termos gregos mnèmè e anamnèsis, os quais signifi cam, respectivamente, ter uma lembrança e ir em busca dessa lembrança. Assim, a memória é dada e exercida e a questão “o quê?” desdobra-se na questão “como?”. Essa aporia subdivide os dois primeiros capítulos da primeira parte. O desejo de reconhecimento de uma coisa ausente ocorrida antes joga um papel decisivo em todo o percurso do texto. Por isso, a afi rmação de Aristóteles de que “a memória é do passado” permite a Ricoeur enfrentar a aporia entre memória e imagem (eikon), vinculando a memória à temporalidade da condição humana. Essa mesma aporia repercute no plano da história, pela sobreposição entre narrativa histórica e ficção literária.
A memória, enquanto exercida na prática, está exposta à aporia do uso e abuso. O autor explora a larga tradição das técnicas de memorização (ars memoriae). A memória, enquanto exercida, é, ainda, impedida (enferma) no nível patológicoterapêutico; manipulada, em função da manutenção da identidade individual e coletiva (ideologia). A memória coletiva integra e forma a identidade do grupo mediante datas comemorativas e outros expedientes. Além disso, a memória pode ser uma obrigação (dever de memória) um “recorda-te” que também é um “não te esqueças” relacionado a acontecimentos traumatizantes de nosso século, em especial a Shoah.
O que o autor denomina “dever de memória”, que, em seu desdobramento semântico, pode ser entendido como um dever de fazer justiça à vítima, com a qual contraímos uma dívida que temos obrigação de saldar, está situada no contexto do uso e abuso. Esse problema moral é também evocado em relação ao esquecimento e ao perdão. Embora ele conteste a idéia de um “dever de esquecer” e da anistia, na terceira parte, não descarta a possibilidade da reconciliação com o passado por meio da perspectiva escatológica do perdão.
A demanda de uma “política da justa memória” (p. 17) reivindicada pelo autor como um de seus temas de reconhecimento público encontra seu limite a partir da mediação da análise fenomenológica, epistemológica e hermenêutica, que apenas toca de leve na questão moral.
A segunda parte da obra desenvolve uma epistemologia da história. A tese constante é a de que a história é uma escrita, por isso o autor transporta para a escrita histórica o mito platônico do Fedro sobre a invenção da escrita, a saber, se ela é remédio (pharmakon) ou veneno da memória. Esse é o eixo da argumentação na segunda parte que prolonga um diálogo interrompido com historiadores “sobre os vínculos entre a memória e a história” (p. 17).
Embora o autor reconheça que seu livro é “uma apologia da memória como matriz da história” considera perigosa a “reivindicação da memória contra a história” (p. 100) pelo excesso de comemoração de memórias feridas e passionais quando se sobrepõem ao “enfoque mais vasto e crítico da história” (p. 102). As aporias da memória da primeira parte refl etem-se no plano da história. Seguindo o esquema de Michel de Certeau, o autor propõe-se a explicitar as três fases (imbricadas) da operação historiográfi ca, que estruturam os três capítulos da segunda parte: fase documental, fase explicativa/compreensiva e fase reconstrutiva. Apenas nessa última fase tem-se “a intenção de representar em verdade as coisas passadas” (p. 147), a partir da qual se define o projeto do historiador.
É precisamente no nível de uma hermenêutica da condição histórica, terceira parte da obra, que podemos avaliar a intensidade do julgamento histórico que extrapola o agenciamento epistemológico e documental da história. A hermenêutica da condição histórica vem ocupar o lugar de uma fi losofi a especulativa da história. Suscita dois tipos de investigações, uma crítica e outra ontológica: crítica, porque impõe “limites a qualquer pretensão totalizadora ligada ao saber histórico” (p. 299) e valida as operações objetivantes que regulam a escritura da história; ontológica, porque explicita a estrutura do nosso modo de ser histórico a partir do qual compreendemos a história.
Por intermédio dessa hermenêutica da condição histórica, “a representação do passado” aparece confiada à nossa custódia, também “exposta às ameaças do esquecido” (p. 18). “O esquecimento é o emblema de quão vulnerável é nossa condição histórica” (p. 300). Há esquecimento onde houve marca, por isso se relaciona com a memória e a fi delidade ao passado, sendo seu pólo oposto. O esquecido não é só o inimigo da memória e da história, há uma fi gura positiva do esquecido, o “esquecido de reserva”, que constitui um recurso irredutível e “reversível” a qualquer balanço de fiabilidade com o passado, por meio da memória ou da história. É uma existência inconsciente do recordar-se que pode reaparecer com a força da impressão original e que atesta nossa persistência na existência, o que evoca o conatus de Spinoza.
O perdão aparece apenas no epílogo, porque é “um componente suplementar” (p. 300) da obra e faz referência à culpabilidade e à reconciliação com o passado, por isso “propõe-se como horizonte escatológico de toda a problemática da memória, da história e do esquecimento” (p. 301). O perdão quebra a dívida, mas não a esquece, é um esquecimento da dívida, não do fato. O perdão não é uma exigência, mas um pedido que deve enfrentar a recusa, o imperdoável. O perdão é incógnito, é sem conhecimento possível, pois se trata de gestos inatingíveis que rompem a esfera do ódio e da vingança; é um desafio impossível, entretanto aceitável. Por isso, o perdão é possível, mas difícil.