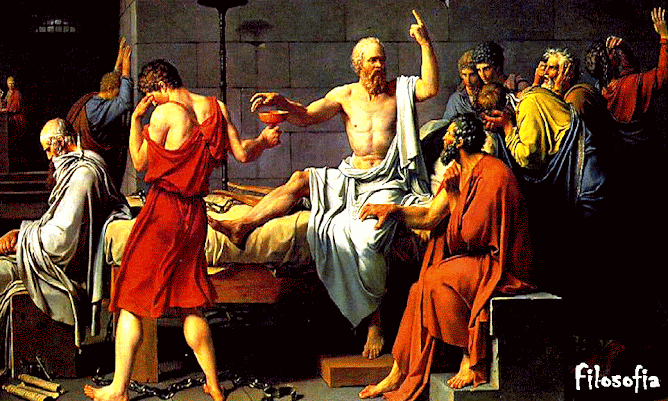Novas Tecnologias e Sociedade Pedagógica
Novas Tecnologias e Sociedade Pedagógica Em 1999, o filósofo Michel Serres esteve em São Paulo para uma série de conferências, no quadro do Iº Congresso Internacional de Desenvolvimento Humano (Universidade São Marcos, 16 a 18 de setembro de 1999). Em meio ao amplíssimo espectro de temas que poderia e costuma tratar, Michel Serres, em suas conferências paulistanas, versou principalmente sobre as transformações em curso no mundo contemporâneo, impulsionadas, sobretudo, pelas novas tecnologias de comunicação e a instauração do que tem chamado de uma sociedade pedagógica; tratou ainda, com especial atenção, das novas concepções sobre o corpo e os seres vivos, que vêm se forjando à luz dos novos conhecimentos da biologia. À primeira vista, pode parecer que abordou ecleticamente assuntos variados e desconexos; contudo, o que se revelou aos que puderam ouvi-lo, foi um saber intensamente conectado e construído sob o signo da diversidade, da transposição (de um campo da atividade humana a outro) e da heterogênese (de um saber por outro). E esse pode ser um bom começo para a difícil tarefa de estar apresentando este pensador, tão brilhante quanto singular, de obra tão vasta e densa quanto indispensável para a compreensão do nosso mundo.
Nascido em 1930 no sul da França, faz questão de destacar sua descendência de uma linhagem de marinheiros e camponeses da Garonne, lembrando que a exigência do filósofo de compreender o sentido das coisas se aplica também a sua própria existência e ao conhecimento de suas raízes. Assim, sublinha que a cultura é tanto o trabalho da terra quanto o conhecimento intelectual. Assim também, filho de marinheiro, inicia sua formação superior na Escola Naval (1947), onde obtém uma licenciatura em matemática. E assim, por fim, explica boa parte de sua trajetória intelectual por fazer parte de uma geração que cresceu sob os estrondos dos canhões e assistindo a algumas das maiores atrocidades do século XX: da guerra na Espanha (aos 6 anos) às guerras coloniais da Argélia e da Indochina (aos 25 anos), passando pela IIª Grande Guerra e Hiroshima (dos 9 aos 14 anos), a sua geração “se forma carnalmente nesse ambiente atroz e se mantém, desde então, afastada de toda política: o poder continua a significar para ela apenas cadáveres e suplícios.” Como jamais deixará de repetir, a violência sempre foi e será o seu principal problema, sobre o qual assentará a base de todo seu trabalho filosófico.
Porque não queria “servir a canhões e torpedos”, abandona a Escola Naval, levando consigo uma sólida formação matemática, e ingressa na Escola Normal Superior (1952), para fazer seus estudos literários. Esse trânsito das ciências “duras” às humanidades define, geneticamente, um outro traço marcante de toda obra que se seguiria e da personalidade filosófica de Serres e da qual, aqui, só poderemos aduzir uma brevíssimo vislumbre.
Sua visada não será a da tradicional epistemologia francesa que, na sua opinião, acaba por ratificar a separação entre “ciências” e “humanidades”, ao pretender se fazer de ponte. Sua perspectiva será outra: a da transposição de um campo a outro; a da primazia do percurso sobre o discurso; e a da busca de uma teoria generalizada do local: “Através das regiões as mais distanciadas circula freqüentemente uma relação subterrânea que a intuição por si só não pode alcançar, assim como tampouco podem o conhecimento imediato ou o saber discursivo, mas que pode ser atingida, às vezes, por um formalismo puro e refinado... A aptidão ao diverso é proporcional à pureza inicial”, escreve em O sistema de Leibniz e seus modelos matemáticos, seu doutorado e primeira grande obra publicada (1969). Isso não quer dizer, entretanto, que Serres considere a matemática um modelo de referência ou índice de uma hierarquia enciclopédica; os problemas de sistematicidade e formalização não possuem um campo original de direito, mesmo se, de fato, assumem uma forma matemática, sendo um problema colocado para o conjunto dos sistemas formais, onde quer que uma incompletude se revele. Essa perspectiva não deixará de estar presente em outra obra de referência: O nascimento da física no texto de Lucrécio (1977).
Em Serres, o percurso constitui o discurso, conduzindo até o ponto em que se percebem as violências arcaicas, que somente uma teoria generalizada do local e do objeto podem desviar de seu curso proliferante. Em 1980, Serres publica um livro sobre o mal: O Parasita. Descreve os mecanismos de substituição sacrificial que se encontram na fundação do poder e da relação entre o particular e o universal. Em outras palavras, demonstra como nossa cultura é “a continuação da barbárie por outros meios”, do mesmo modo que nos pontos de crise dos sistemas formais as substituições violentas da barbárie arcaica não cessam de proliferar “a golpes de prolongamentos racionais”. Contra essa proliferação de violência, Serres oporá uma outra racionalidade, não mais do universal e do particular, mas uma ciência e uma sabedoria do local.
Essa filosofia plena de transportes, acabaria por eleger Hermes, deus mensageiro, o deus tutelar de uma série de cinco livros que publicou entre 1969 e 1980 (I. A Comunicação, 1969; II. A Interferência, 1972; III. A Tradução, 1974; IV. A Distribuição, 1977; V. A Passagem do Noroeste, 1980), onde desenvolveu as múltiplas facetas de sua reflexão sobre as ciências e, sobretudo, as suas transposições, em cada época, para outros domínios da atividade humana. Contudo, a “mensagem” passa de uma ordem a outra, mas não sem algum “ruído”, não sem algum “parasitismo”; o conjunto forma não um território bem delimitado, mas algo que se assemelha muito mais a uma “nebulosa flutuante”.
Michel Serres escreve vários livros ao mesmo tempo, sendo que esta simultaneidade é o contrário de um encadeamento (daí, as enormes dificuldades em se fazer uma apresentação linear ou cronológica de sua obra), mas a busca de um descentramento das condições contemporâneas da linguagem e da escritura, agudizando a mencionada problemática da substituição, do local e do objeto. Paralelamente à Coleção Hermes, publica outras obras em que continua a elaborar suas “transações” estéticas e científicas, tais como, entre outras: Juventudes - sobre Jules Vernes (1974), Estéticas - sobre Carpaccio (1975), Zola - fogos e sinais de bruma (1975). Em todas estas obras, “o essencial não é mais tal figura, tal símbolo ou tal artefato; o invariante formal é alguma coisa como um transporte, uma errância, uma viagem através das variedades espaciais separadas.”
A partir dos anos 80, abre-se um novo período, em que suas reflexões se aproximam cada vez mais da imaginação cotidiana. Em 1987, publica Estátuas, meditação sobre a morte; em 1990, O contrato natural, que apela para uma nova relação com o mundo natural; em 1991, O terceiro-instruído, que trata da educação e da questão da mestiçagem cultural. Este último livro lhe trará uma especial notoriedade junto ao grande público e acompanhará sua entrada, em janeiro de 1991, para a Academia Francesa de Letras.
Hermes continuará a simbolizar, a seus olhos, a noção chave para compreendermos o mundo contemporâneo: a comunicação. E, nesta última década, ampliar-se-á significativamente a sua produção literária relativa a esta temática, bem como o seu engajamento pessoal nas grandes questões tecnológicas, comunicacionais e, sobretudo, educacionais que vêm marcando a passagem do século XX para o século XXI.
Quanto ao seu papel como educador, cumpre destacar alguns acontecimentos marcantes da sua trajetória, começando pela sua participação ao lado de Michel Foucault nos primórdios da Universidade de Vincennes (Paris-VIII), em 1968. Este espaço acadêmico terá papel destacado na renovação da filosofia francesa pós-68 e nele se formará uma nova geração de pesquisadores e pensadores, muitos dos quais tiveram Serres como grande mestre. Destacamos aqueles reunidos em outra obra capital de Serres (e que revela mais uma de suas múltiplas facetas – a de historiador das ciências): Elementos de História das Ciências (1989). Sob sua direção, esta obra reúne textos de Michel Authier, Isabelle Stengers, Bruno Latour e Pierre Lévy, apenas para mencionar os mais conhecidos do público brasileiro.
Para além do mundo universitário, sua participação em assuntos educacionais não vem sendo menos importante. De 1991 a 1993, a pedido da primeira-ministra Edith Cresson, Serres comanda uma missão (que ficou conhecida como a “Mission Serres”) para a pesquisa e formulação de propostas de ensino à distância. Sob seus auspícios, Michel Authier e Pierre Lévy chegam à concepção e desenvolvimento de um software extremamente original, destinado à gestão de conhecimentos em grandes coletivos, que se tornou uma referência mundial neste tipo de tecnologia.
Atualmente engajado num combate pela cultura, contra a exclusão e a violência na televisão (destacando-se, a este respeito, o seu livro Mensagens à distância de 1995), passou a integrar o comitê diretor de uma cadeia de televisão francesa (TV5), na esperança de aprofundar o processo de ensino multimídia, do qual a televisão é apenas um dos elementos. É um declarado otimista das novas tecnologias multimídia e entusiasta da gratuidade dos conhecimentos disponíveis na internet, como ficará claro na entrevista que se segue.
E não para aí a sua vasta gama de atividades nestes e outros domínios, assim como mantém uma fecunda atividade literária e editorial. Relativamente ao tamanho da sua obra (que não foi integralmente mencionada nesta breve apresentação do seu trabalho), foi ainda muito pouco traduzido no Brasil. Destacamos, entretanto, duas obras recentes que oferecem ao leitor de língua portuguesa uma prazerosa introdução ao seu pensamento: A Lenda dos Anjos (São Paulo, Aleph, 1995) e Luzes – cinco entrevistas com Bruno Latour (São Paulo, Ed. UNIMARCO, 1999).
Esperamos que a entrevista concedida à Interface (em 16 de setembro de 1999) também contribua para apresentar um pouco mais e de viva voz ao nosso leitor as idéias desse fundamental pensador de nosso tempo, sobretudo no que se refere a estes últimos campos de interesse apresentados, e que foram os temas principais de suas conferências em São Paulo (comunicação, educação, novas tecnologias, novos coletivos, o corpo, o vivo e, por extensão, algumas questões de saúde e medicina). A edição da entrevista preserva o seu caráter de uma conversa a três, já que haviam dois entrevistadores: Rogério da Costa (filósofo, docente da Faculdade de Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) e Ricardo Rodrigues Teixeira (médico sanitarista, docente e pesquisador do Centro de Saúde Escola Samuel Barnsley Pessoa/Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP).
SOCIEDADE PEDAGÓGICA
“Já envelhecido, nosso mundo das comunicações está parindo, neste momento, uma sociedade pedagógica, a das nossas crianças, onde a formação contínua acompanhará, pelo resto da vida, um trabalho cada vez mais raro. As universidades à distância, em toda a parte e sempre presentes, substituirão os campi, guetos fechados para adolescentes ricos, campos de concentração do saber. Depois da humanidade agrária vem o homem econômico, industrial; avança uma era, nova, do conhecimento. Comeremos saber e relações, mais e melhor do que vivemos a transformação do solo e das coisas, que continuará automaticamente.”
Michel Serres
Ricardo Teixeira – Eu gostaria de começar pela noção de “sociedade pedagógica”. Na sua conferência dessa manhã, o Sr. falava da passagem de um espaço de concentração para um espaço de distribuição, como uma das características da emergência de uma “sociedade pedagógica”. Entretanto, não se trata apenas de uma mutação na espacialidade dos atos de ensino-aprendizagem, que antes se dariam em espaços de concentração e agora se encontram distribuídos pelas redes, podendo se dar à distância. Não é da mesma “Educação” que se trata nos dois casos. Devemos esperar uma mutação no próprio conteúdo. A questão é: de que “Educação” se trata quando falamos numa “sociedade pedagógica”?
Michel Serres – É verdade que vivemos, desde 1965-70, numa sociedade onde a comunicação assumiu uma importância jamais alcançada, uma vez que os meios técnicos de comunicação se desenvolveram de uma forma exponencial. Mas o que é importante, hoje, é que a informação se tornou decisiva para quase todos os métiers. Eu vou lhes dar um exemplo que me impressionou bastante: duas moças chegaram num Ministério onde foram recrutadas e, quando chegaram neste Ministério, elas o conheciam melhor do que as pessoas que já estavam lá. Por que? Porque durante oito dias antes elas haviam buscado na internet a totalidade da informação concernente a este Ministério. Elas tinham, portanto, uma formação superior àquela das pessoas que já estavam ali trabalhando. E isto é perfeitamente novo. Por que? Porque se pode buscar informações em novas fontes, que fazem com que, de forma paradoxal, os novos saibam mais que os antigos. É isso que eu chamo de sociedade pedagógica.
Por outro lado, tudo que é televisão, rádio, informação em geral, está estruturado ao modo da distribuição escolar. E mesmo a distribuição escolar no sentido mais tradicional. Por exemplo, alguém que você vê falar na televisão, você não pode lhe dirigir questões, como outrora os grandes professores davam os grandes cursos sem jamais responder a questões. Contudo, na troca quase regular que mantemos atualmente entre nós, a informação tem um lugar muito maior que outrora. Portanto, o laço social está cada vez mais fundado na circulação da informação.
Eu vou mesmo mais longe. O que criou o laço social até recentemente, e a maior parte das pessoas pensa que é ainda ele que cria, foi o dinheiro, isto é, a circulação da moeda. Ora, se você tem filhos e eu lhe coloco a questão: o que você preferiria dar às suas crianças, uma sólida formação em matéria científica e técnica ou uma herança de um milhão de dólares? Poucos hesitariam! E as pessoas prefeririam a formação. Por que? Porque se percebe bem atualmente que a circulação da moeda é extremamente frágil, extremamente flutuante, e que a circulação da informação tem papel de referência... E, portanto, a confiança no saber e na formação estão, na minha opinião, crescendo. E é isso que eu chamei o laço social fundado na informação, nos bens imateriais etc....
Rogério da Costa – Porque nós estamos entrando numa sociedade de economia virtual, de uma economia do imaterial...
Michel Serres – Voilà! É isso! É o que se chama a economia imaterial... Isto é, que o saber pode ser, de uma certa forma, a moeda... Mesmo se você compra um bilhete de avião – eu tomo os exemplos mais simples – e você sabe a que horas ele parte, como, etc., você não poderá obter um preço tão baixo, o que mostra bem que a informação faz o preço.
Rogério da Costa – Nós observamos hoje uma mudança profunda na nossa relação com os saberes e conhecimentos. É extraordinária a mutação dos saberes e dos conhecimentos...
Michel Serres – Exatamente.
Rogério da Costa – Isto diz respeito profundamente aos jovens e aos idosos. É pior para os idosos?
Michel Serres – Os idosos têm uma nova função na sociedade. Eu a experimento muito porque, na Sorbonne, eu ofereço meu curso aos sábados. Muito bem: há dez anos a metade das pessoas que vêm a meu curso são idosas ou pessoas que trabalham. Por conseqüência, há uma função cultural das pessoas de mais idade hoje, enquanto em outros tempos a responsabilidade cultural era dos jovens. Ora, hoje em dia os jovens são muito rapidamente tomados por uma especialidade mais e mais exigente e são obrigados a deixar um pouco de lado tudo aquilo que nós chamaríamos de humanidades, a cultura etc., e tem-se a impressão que a geração com mais de quarenta anos a reencontra e repõe em circulação. Há uma espécie de mudança de geração no que concerne à relação com a cultura. É muito curioso!
Rogério da Costa – Isso pode desempenhar um papel muito importante com respeito ao desemprego, por exemplo, ou à exclusão social, em relação às pessoas que não vêem mais horizonte em suas vidas. A velocidade com a qual os conhecimentos e os saberes mudam e os meios técnicos de que dispomos hoje em dia, podem, efetivamente, contribuir com novos regimes de trabalho...
Michel Serres – De fato, eu sou bastante otimista em relação às novas tecnologias por causa disso: porque qualquer um pode ter acesso a um número muito grande de informações, em qualquer lugar. O único problema, evidentemente, é que esta informação não é validada, não é controlada. E isso é uma verdadeira questão! No momento, eu sou bastante favorável ao não-controle. Em geral, os franceses amam bem o controle, mas não eu. Por que? Porque... Você já ouviu falar de Robin Hood, de Robin des Bois [N.T.: literalmente, Robin dos Bosques, versão francesa do célebre personagem da Inglaterra medieval]. Você sabe o que essa lenda quer dizer? Quer dizer que, em outros tempos, nas florestas não havia direito. Todo espaço era um espaço jurídico, exceto as florestas que eram consideradas como zonas de não-direito. E Robin é uma palavra francesa que quer dizer “celui qui porte la robe” [“aquele que usa o vestido ou o hábito (religioso) ou a toga (dos magistrados)”] e “la robe” era a toga do juiz. E, portanto, Robin Hood quer dizer “o homem de direito num espaço de não-direito”. É muito refinado!
Ora, os espaços de não-direito são espaços onde muitas transformações têm lugar. É o lugar onde, ao menos em imagem, metaforicamente, as transformações sociais se fazem. E, no momento, as novas tecnologias são um lugar de não-direito. E, então, evidentemente, as pessoas vão gritar, vão dizer: “Sim, é a pornografia! É a violência!” Sim, é verdade. Mas é também a totalidade do saber. E portanto, a crítica que se fazia outrora às bibliotecas era a mesma. Dizia-se: “Mas, enfim, a biblioteca não é controlada. Qualquer criança pode ir ver qualquer livro, a qualquer momento. Portanto, é preciso um Index.” Vocês se lembram destas histórias. Portanto, a biblioteca recebia exatamente o mesmo tipo de crítica que a internet, hoje em dia. Críticas que não são novas, são tão velhas quanto a informação. Portanto, se a crítica não é nova, ela não me interessa. E o que me interessa é que seja um espaço de não-direito e, da mesma maneira que a biblioteca de uma certa maneira salvou a humanidade, de uma certa maneira eu sou otimista com as novas tecnologias. Por causa do não-direito, por causa do lugar de transformação social. Voilà!
Ricardo Teixeira – Neste ponto, eu recorro a uma analogia, antes de colocar a questão de uma forma mais direta. Retomo mais uma vez a idéia já mencionada de um espaço de concentração, que me faz pensar, por analogia, nos espaços de clausura e na “sociedade disciplinar”, nos termos propostos por Foucault...
Michel Serres – Não, eu não a tomava neste sentido...
Ricardo Teixeira – Sim, mas apenas para completar a analogia, quando o Sr. fala, agora, num espaço de distribuição, com as novas tecnologias e a “sociedade pedagógica”, eu tendo a fazer de novo uma analogia com a chamada “sociedade de controle” que, segundo Deleuze, prolongando as análises de Foucault, sucederia à “sociedade disciplinar”. Onde passaria a fronteira que separaria uma “sociedade pedagógica” de uma “sociedade de controle”?
Michel Serres – A sociedade de controle é uma sociedade inteiramente tomada pelo direito, já que se trata de um controle. Portanto, há uma jurisdição que vigia praticamente todos os lugares desta sociedade. Eu digo, ao contrário, que as novas tecnologias são um lugar de não-direito. E a fronteira está aí! Quer dizer, no momento nós estamos na floresta, isto é, na biblioteca onde não há controle. E é justamente porque não há controle que estou otimista. Quer dizer, no momento, há pessoas que dizem “é preciso que os sites sejam controlados”, pessoas dizendo “o site do nosso amigo é sério, porque ele é titular de Direito ou qualquer coisa assim, o site é muito sério porque é um verdadeiro médico que dá a verdadeira informação”... Isso não me interessa! Por que? Você que é médico deve ser sensível a isso... Eu vi se fundar nos Estados Unidos, recentemente, uma vez que eu me ocupo muito disso, um site onde há – talvez você o conheça -, onde se dá livremente a palavra a todas as mulheres que tiveram um câncer de seio. Bem, eu conheço vários oncologistas que dizem ter aprendido uma enormidade de coisas neste site. Por que? Porque as mulheres são completamente livres de dizer o que elas querem e nas condições que elas querem, de tal forma que, às vezes, lhes ocorre dizer coisas que são fundamentais para o médico, das quais eles não tinham a menor idéia. Mas é justamente porque não há controle que elas podem dar a informação que o médico pode achar verdadeiramente importante para a sua atividade profissional. Então, a falta de controle, às vezes, é problemática, mas às vezes, ao contrário, é muito, muito fecunda.
Ultimamente, uma vez que eu me interesso pela biologia, eu descobri um site cujo assunto era escorpiões. Muito bem, as melhores informações que eu obtive sobre o escorpião, me foram fornecidas por um fazendeiro, porque ele tinha uma prática muito exata da maneira pela qual é preciso negociar com o perigo do escorpião. Não foi o professor de História Natural que me forneceu a realidade concreta do problema. Portanto, a maior parte das pessoas desconfia do não-controle, mas por ora eu sou bastante favorável ao não-controle, porque às vezes há um saber perdido... Eu vou lhes explicar...
Há um livro muito interessante que foi escrito no século XIX por Michelet, que se chama La sorcière [A bruxa]. Quando jovem, eu fui um grande admirador da “bruxa”, porque de alguma maneira ela representava a anti-universidade. Era nos bosques, era à noite, eram as mulheres. Eu quero dizer, nos bosques nunca houve universidades, a noite é o contrário da era das luzes, as mulheres estavam excluídas da universidade, eram camponesas etc., e, de repente, nos dávamos conta de que esta “bruxaria” tinha chegado a um certo número de plantas que eram desconhecidas do farmacêutico, venenos, remédios etc., e Michelet mostra que há aí um saber que não é um saber oficial, mas que pode ter uma importância extraordinária para o renascimento de certos tipos de disciplinas. De uma certa maneira, há uma bruxa nas novas tecnologias. Voilà!
Ricardo Teixeira – Retomamos a chave do otimismo! É uma tendência muito forte aqui... Mas, quando eu falava há pouco na idéia de uma “sociedade disciplinar” seguida por uma “sociedade de controle”, o exemplo que eu poderia dar como emblemático da “sociedade de controle” são as auto-estradas, pois nela não se está enclausurado, mas mesmo assim se é controlado... As novas tecnologias são muitas vezes chamadas de vias, de auto-estradas da informação...
Michel Serres – Ah não!
Ricardo Teixeira – Em todo caso, para além dos significados e atribuições de valor, não poderíamos identificar um sentido (segundo uma lógica estóica) das novas tecnologias? Ou, dito da maneira de McLuhan, não haveria uma mensagem implícita nestes novos meios, quer dizer, não seriam eles, em si mesmos, uma mensagem? O Sr. compreende minha questão?
Michel Serres – Perfeitamente. Há mesmo duas questões na sua questão. A primeira é a analogia com a auto-estrada e a segunda é a questão de McLuhan. Eu contesto a analogia com a auto-estrada, porque ela não é verdadeira. Diz-se auto-estradas da informação, mas não é o caso da internet. A gente diz sempre navegar... A gente diz sempre surf...
Ricardo Teixeira – Trata-se muito mais do mar...
Michel Serres – Voilà! Ora, no mar não existem auto-estradas... Quer dizer que se você quer ir um pouco mais à esquerda ou um pouco mais à direita, você tem muito mais liberdade do que numa auto-estrada. A auto-estrada é direcional. Não o mar. E portanto, a metáfora da navegação me parece mais justa, porque há flutuação, há tempestade, há turbulências, há coisas que não são assim tão direcionais; no fundo, é a diferença que há entre o sólido e o líquido. A metáfora da auto-estrada é uma metáfora sólida e a metáfora da navegação é uma metáfora líquida. Ora, o sólido é um cristal ordenado, enquanto o líquido é um conjunto de moléculas desordenadas. Voilà! E portanto, é menos ordenado que a auto-estrada.
Dito isto, a questão de McLuhan permanece justa. Quer dizer, com efeito, há alguma coisa como um conjunto de sinais preestabelecidos na totalidade da rede. Isto é verdade, mas aquilo que era verdade na época de McLuhan, por que a informação e o suporte eram raros, tende a se tornar menos verdadeiro, na medida em que o seu número cresça de uma forma vertiginosa. Porque, no fundo, não há um ligação preestabelecida entre você e eu, nós podemos nos encontrar na net ou por acaso, quer você tenha vindo me ver na Sorbonne, quer você tenha topado comigo por acaso... Portanto, não há uma ligação realmente preestabelecida, uma auto-estrada ou mesmo, então, uma linha de navegação: uma linha que vá de Montevidéu ao Rio é preestabelecida, mesmo que ela flutue. Enquanto isso não é verdade para as novas tecnologias. Não existem relações preestabelecidas. Podemos nos conectar com qualquer um... Portanto, há um número muito grande, um acaso favorecido, que permite justamente que já se critique as metáforas de McLuhan. São menos presentes...
Rogério da Costa – Recentemente li um artigo de Toni Negri, onde ele se perguntava: “Onde está a força política hoje em dia? Onde está a força política subjetiva de nossa atualidade?” E quando o Sr. fala das mulheres que têm um site sobre o problema de câncer de mama, será que nós podemos ver nisso uma mudança profunda na relação entre a subjetividade e a política, por causa das redes, por causa das novas tecnologias?
Michel Serres – Provavelmente...
Rogério da Costa – Talvez ainda nos falte a formalização adequada para dizer às pessoas: “Vejam! As coisas começam a mudar!” É preciso tentar fazer política de um modo diferente. É preciso tentar se apropriar dos meios técnicos e tecnológicos, para fazer uma nova política...
Michel Serres – É a minha opinião. Quer dizer, a razão pela qual as grandes teorias políticas desmoronaram nestes últimos vinte anos, se deve ao fato – você se lembra o que eu disse na conferência a respeito de Sartre [N.T.: Serres questiona o “engajamento” de Sartre, argumentando que a obra e a luta política de Sartre passou ao largo de transformações e outras questões decisivas na história do século XX.] - de que nenhuma delas levou em conta o mundo real que se formou neste século. E portanto, elas desmoronaram por estarem completamente defasadas de seu tempo. Eu me pergunto mesmo se eu não diria isso até das teorias de Foucault, que elas estão defasadas por relação a seu tempo, já que não há nele uma verdadeira visão de uma das principais transformações da atualidade...
Portanto, o trabalho hoje é aquele que você indica, isto é, como formular uma nova teoria política que dê conta dos novos coletivos... Se é o coletivo que mudou... Percebe? Esta nova coletividade... O conjunto das mulheres no planeta que tiveram câncer de mama não era um coletivo imaginável há seis anos. É um novo coletivo. E eu acredito que muitos conceitos como a representação por um deputado etc. devem ser re-retomados, re-refletidos e mesmo uma política em tempo real, isto é, o processo de decisão etc., tudo deve ser repensado em virtude das novas tecnologias...
Ricardo Teixeira – Eu penso também na noção de tecnodemocracia: fazer escolhas tecnológicas, fazer das técnicas também um objeto de deliberação coletiva...
Michel Serres – Contrariamente ao que se acreditava outrora – e eu sempre reagi contra isso -, que havia infraestruturas fixas que não eram determinadas, que a técnica era simplesmente um produto da sociedade... Mas de jeito algum! A sociedade é que é um produto da técnica! Compreende? Ou seja, o que eu disse há pouco (na conferência), que desde que se inventou a escrita, então, passamos a ter o Estado, as cidades, novas religiões, novas ciências... Sim, mas simplesmente porque a técnica da escritura precedeu tudo isso. Colocar a técnica à distância é ainda uma idéia de burguês do século XIX (risos). A técnica é muito mais importante do que se acredita... E mesmo dizer “tecnopolítica”, é uma crítica à técnica. Não é assim que funciona, a técnica...
Ricardo Teixeira – Eu não entendi este último ponto...
Michel Serres – O conceito mesmo de “tecnopolítica” é uma espécie de desprezo pela técnica. Não, a técnica não é isso. A técnica é uma produção biológica do nosso corpo. Portanto, é completamente fundamental na atividade hominal. Voilà!
Ricardo Teixeira – Aqui, eu gostaria de introduzir uma questão mais específica, concernente ao campo da saúde. Retomemos uma outra questão abordada na sua conferência, a propósito da noção de identidade biológica. O Sr. falava que nós somos compostos de dezenas de milhares de células e habitados por um número ainda maior de micróbios saprófitas e que não são reconhecidos por nosso sistema imunitário como um “não-si”. É esse o problema de identidade que eu gostaria de tratar, de novo um problema de “fronteiras”: qual o limite do “si” quando se é habitado por um “não-si” que não é reconhecido pelo organismo como um “não-si”?
Michel Serres – Isso nos permite compreender a identidade como um conceito flutuante. Não se trata de um conceito fixo e estático, o conceito de identidade... Você que é médico sabe perfeitamente que alguém que teve rubéola ou qualquer outra doença infecciosa, não a terá mais, pois essa pessoa criou anticorpos para evitar uma nova invasão. Mas, será que se trata da mesma identidade biológica, da mesma pessoa agora que antes? Não, não, não se trata mais da mesma. De uma certa maneira, é sempre Michel Serres. Mas, dado que ele possui uma outra população de anticorpos agora, seus sistemas imunitários mudaram profundamente. Conseqüentemente, um sistema de identidade é invariante por variação. Ele é flutuante: globalmente estável, mas localmente variável. Ele é invariável por variação.
Mas, fazemos sempre graves confusões sobre a noção de identidade. Não me agrada que as pessoas falem em “identidade sexual”, “identidade nacional”, “identidade cultural” etc.. Por que? Porque elas confundem identidade com pertencimento. Assim, quando falam, por exemplo, em identidade brasileira, identidade francesa, confundem o que seja identidade – identidade é “A” idêntico a “A”, isto é, “Michel Serres” é idêntico a “Michel Serres”: isto é a identidade. O fato que ele seja francês... Isso não é a minha identidade, isso é meu pertencimento. O fato que eu seja judeu, católico, protestante... Pertencimento. O fato que eu me chame Serres é, aliás, um pertencimento a uma família. O fato que eu me chame Michel é pertencimento ao conjunto de pessoas que se chamam Michel. Tudo isso são pertencimentos. E, por conseqüência, confundir pertencimento com identidade é a própria definição de racismo. Porque se diz: ele é negro, ele é judeu, ele é católico, ele é... Não! Ele é Michel Serres. A identidade não deve ser confundida com pertencimento. Uma coisa é: A = A (“A” idêntico a “A”); outra coisa é: A Î {A} (“A” pertence ao conjunto “A”).
Rogério da Costa – E, contudo, é verdade que várias pessoas confundem sua identidade com seu pertencimento e se relacionam com os outros em nome de algo que é apenas um pertencimento e não sua identidade...
Michel Serres – Jamais farão progressos. É preciso ensiná-las de que se trata apenas de um pertencimento. Mas podemos ir mais longe e dizer: “qual é sua identidade?” Bem, minha identidade é a interseção de todos os meus pertencimentos. paulo como arlequim de picasso Eu sou brasileiro + moreno + filósofo + médico + ... + ... + ... e mais eu tenho pertencimentos, mais eu enriqueço minha identidade.
Ricardo Teixeira – E esses pertencimentos derivam, isto é, não são sempre os mesmos...
Michel Serres – Isso mesmo... Sempre exteriores. Mas se você confunde o fato de ser brasileiro com você mesmo, bem, evidentemente, neste caso, você vai assassinar o “não-brasileiro” em você...
Ricardo Teixeira – E a noção de saúde, não corresponderia igualmente a uma noção dinâmica, muito mais do que um estado bem definido? Por exemplo, em Canguilhem: mesmo partindo da idéia de “normatividade vital”, a saúde se define sempre por uma certa independência do instrumental médico: “eu estou em boa saúde na medida que eu posso prescindir dele”. Contudo, pode-se observar cada vez mais uma definição implícita de saúde que diz: “eu estou em boa saúde na medida que eu mantenho um certo acoplamento com o instrumental médico”. Trata-se de uma definição de saúde que compreende a idéia de um acoplamento do corpo com certos objetos...
Michel Serres – Você fala de Canguilhem e seu nome me veio ao espírito várias vezes durante a conferência, sem que eu o tenha citado. Ele faz parte do grupo de pessoas que tinha do vivo uma idéia antiga. Ele nada conheceu do que eu disse esta tarde, nada...
Ricardo Teixeira – E, contudo, ele escreveu depois da guerra...
Michel Serres – Sim, depois da guerra e ele desconhecia completamente a bioquímica. Eu me lembro – eu fui seu aluno – o dia em que fiz uma exposição sobre o repressor do sistema da lactose. Ah... Eu nunca vi esse homem mais “doente”! Ele ficou completamente perdido, completamente perdido: “O que é um repressor? O que é uma proteína? O que é o DNA?” Para ele, a medicina era a medicina de antes da guerra. Se você lê O normal e o patológico, não há nele uma única proteína, nenhum dos sistemas de estratégia de saúde que nós desenvolvemos nos últimos trinta anos. Portanto, ele faz parte desta aproximação do vivo que caracterizava a geração que nos precede e cuja visão, nós transformamos completamente...
Ricardo Teixeira – Neste caso, o Sr, está de acordo quando eu digo, por exemplo, que a definição de saúde não pode mais ser estabelecida independente dos objetos técnicos...
Michel Serres – Absolutamente.
Ricardo Teixeira – Eu gostaria que o Sr. falasse um pouco como vê este outro conceito de saúde...
Michel Serres – Eu não poderia tratar completamente essa questão agora, mas posso falar um pouco de uma nova idéia de médico. Eu tenho uma nova idéia do médico. Há uns quarenta anos que o prêmio Nobel de medicina não é dado a um médico; ele é sempre dado a um biólogo. Tem-se a impressão que a medicina foi roubada do médico, uma vez que os biólogos são os autores da nova concepção do vivo, da nova farmácia, das novas terapêuticas, das novas estratégias concernentes à sua relação com os elementos orgânicos etc., e, portanto, o médico recuou e sua única maneira de se defender é absorver mais e mais informação biológica, não é? Então, o médico ganha outra vez terreno e se torna cientista. E vê-se muito bem como nos países ocidentais o médico tende a se tornar mais e mais savant, a se tornar biólogo. Bem, eu creio, eu sonho com um terceiro estado do médico. Primeiro, o médico era Canguilhem – de uma certa maneira, Canguilhem é a “não-ciência” -; em seguida, o médico se torna biólogo; é preciso, agora, que dê um terceiro passo: definir em relação a esta ciência que tende a se tornar universal, uma nova relação com o indivíduo. Quer dizer, há um terceiro estado médico hoje que consiste na idéia de reformar as relações médico-paciente, levando em conta a ciência tal como ela se constituiu nos últimos trinta anos e, de repente, na sua relação, esquecê-la. Percebe? Um pouco como já se disse outrora, a “douta ignorância”. Você se lembra da “douta ignorância”?
Ricardo Teixeira – De Nicolau de Cusa.
Michel Serres – Sim, isso mesmo. Quer dizer que o médico deve ser savant (douto, erudito), mas ao mesmo tempo deve saber esquecer sua ciência. Porque aquilo que busca o doente não é mais, de modo algum, um resultado de laboratório. Isso o laboratório lhe dará sempre. Ele quer outra vez uma relação humana com o médico. Ele quer outra vez uma relação como a que havia em outros tempos, dado que as garantias científicas nós já temos. Então, que o médico seja savant, mas que ele esqueça sua ciência. Voilà!
Rogério da Costa – Portanto, nós temos o que aprender com as práticas analíticas, por exemplo?
Michel Serres – Sim, exceto pelo fato que as práticas analíticas são menos científicas que...
Rogério da Costa – Elas são menos científicas mas, de qualquer forma, se um médico puder ter um olhar sobre o ser humano um pouco mais global...
Michel Serres – Sim, sim.
Ricardo Teixeira – Neste último exemplo o Sr. tratou principalmente da relação do “médico privado”. O Sr. acredita que, tal qual afirmou em sua conferência, a chamada “medicina pública” continuará a responder por mais de 80% das conquistas no campo da saúde?
Michel Serres – Eu fiz um balanço da medicina, em alguns anos da sua história. Mesmo tomando decisões, você sabe, essas grandes decisões - por exemplo, no início do século se disse: “todo parteiro deverá lavar as mãos” etc. -, percebeu-se que todas essas decisões obrigatórias, com o controle da limpeza, salas de operação com controle etc., tudo isso era de uma eficácia extraordinária.
Ricardo Teixeira – Mas o Sr. acredita que a sociedade terá sempre uma dívida muito maior com a chamada “medicina pública” do que com a “medicina privada”?
Michel Serres – Sim, eu acredito. Porque, da mesma forma que eu digo que o novo médico terá uma nova relação com o indivíduo, da mesma forma tudo o que eu disse da ciência vai se recolocar do lado da “medicina coletiva”. Vocês, os sanitaristas, carregarão o peso da ciência e o médico carregará o peso da relação privada. É só a “medicina pública” que poderá, sem dúvida, suportar os altos custos e os grandes problemas implicados pela biologia, que se tornou de tal forma complexa.
A 'mudança verde' dos filósofos franceses
"A propriedade é adquirida e se conserva com a imundície. Ou melhor: a propriedade é aquilo que é sujo". Uma consideração que se desenrola, como um fio condutor, ao longo de todo o intenso livro do filósofo francês Michel Serres intitulado "Il mal sano" [O mal sadio, em tradução livre] (Editora Melangolo, 112 p.), um trabalho de genealogia cultural em torno do sentido oculto do direito de propriedade, que conduz o leitor das antigas tribos latinas à terrivelmente contemporânea e globalizada poluição planetária. Um exercício intelectual típico de Serres (professor em Stanford e acadêmico na França), no centro da sua epistemologia edificada na contaminação e no cruzamento de disciplinas, ao invés da hegemonia de uma só ciência, que, nos últimos tempos, se dedicou sempre mais a refletir sobre a dimensão filosófica do ambiente. A reportagem é de Massimiliano Panarari, publicada no jornal La Repubblica, 23-07-2009. A tradução é de Moisés Sbardelotto.
Fonte: ADITAL
Assim, contamina-se por possuir, evidencia, com riqueza de testemunhas, o estudioso que se caracteriza, mais uma vez, pela prosa sofisticada (de traços enigmáticos) e pelo frequente recurso à metalinguagem (mediante a qual ele mostra, por exemplo, a consonância entre "propreté" (limpeza) e "propriété" (propriedade.
Uma atividade ancestral, que está no coração da humanidade e que funda, justapondo de fato, os direitos de propriedade por meio de secreções e dejetos (urina, excrementos, esperma, sangue), os quais delimitam, etologicamente, o território e definem a posse de um campo a ser cultivado, como de uma fazenda ou de uma mulher a ser inseminada, assim como o seu contrário, a expropriação, tentada ou realizada, porque, como nos lembra Serres, "squat" (de onde vem "squatter", isto é, o ocupante) indica justamente a posição encolhida das mulheres parturientes ou que defecam.
Enfim, sujar com os próprios líquidos e substâncias orgânicas significa se tornar possuidor de um objeto (ou de uma pessoa). E é isso que, mutatis mutandis, a humanidade, portadora perene desse vício de origem, faz, poluindo o planeta e mostrando assim, novamente, a sua insaciável sede de domínio sobre aquilo que nos circunda. Nesse sentido, a poluição "dura" das fumaças, dos resíduos e dos rejeitos equivale àquela "doce" (e até mais insidiosa) da publicidade, versão pós-moderna da frequente vontade de afirmação desmedida do ego.
Eis porque a poluição ambiental, que deve ser entendida como expropriação do mundo por nossa parte, remete à desoladora alienação interior que aflige a humanidade contemporânea, que pode se salvar unicamente compreendendo que somos meros coinquilinos do planeta, junto com outras espécies.
É necessário, invoca o autor (que indica Kant, definido por ele como o "squatter de Königsberg", como um dos adversários teóricos), que assumamos autenticamente a responsabilidade e tomemos consciência do nosso ser meros locatários (e nada mais) do "Hotel Humanidade", como deve ser na era da Rede, que tudo une, tornando supérfluo todo fechamento voltado à posse.
Serres faz um sofisticado manifesto para um novo Contrato natural, que podemos inscrever dentro de uma recente "mudança verde" da filosofia francesa, de Jean-Luc Nancy a Bruno Latour, produzida, não por acaso, no país de Daniel Cohn-Bendit (o ex "Dany Le Rouge" [o Vermelho], que se tornou mais recentemente "o Verde") e da impressionante afirmação eleitoral da sua lista Europe Écologie, mas também das declarações ecologistas (independentemente se sinceras ou instrumentais) do presidente Sarkozy.
Uma nação completamente pós-materialista que hoje, e sempre mais, se pensa e se sente também ambientalista.
Fonte: ADITAL
Assim, contamina-se por possuir, evidencia, com riqueza de testemunhas, o estudioso que se caracteriza, mais uma vez, pela prosa sofisticada (de traços enigmáticos) e pelo frequente recurso à metalinguagem (mediante a qual ele mostra, por exemplo, a consonância entre "propreté" (limpeza) e "propriété" (propriedade.
Uma atividade ancestral, que está no coração da humanidade e que funda, justapondo de fato, os direitos de propriedade por meio de secreções e dejetos (urina, excrementos, esperma, sangue), os quais delimitam, etologicamente, o território e definem a posse de um campo a ser cultivado, como de uma fazenda ou de uma mulher a ser inseminada, assim como o seu contrário, a expropriação, tentada ou realizada, porque, como nos lembra Serres, "squat" (de onde vem "squatter", isto é, o ocupante) indica justamente a posição encolhida das mulheres parturientes ou que defecam.
Enfim, sujar com os próprios líquidos e substâncias orgânicas significa se tornar possuidor de um objeto (ou de uma pessoa). E é isso que, mutatis mutandis, a humanidade, portadora perene desse vício de origem, faz, poluindo o planeta e mostrando assim, novamente, a sua insaciável sede de domínio sobre aquilo que nos circunda. Nesse sentido, a poluição "dura" das fumaças, dos resíduos e dos rejeitos equivale àquela "doce" (e até mais insidiosa) da publicidade, versão pós-moderna da frequente vontade de afirmação desmedida do ego.
Eis porque a poluição ambiental, que deve ser entendida como expropriação do mundo por nossa parte, remete à desoladora alienação interior que aflige a humanidade contemporânea, que pode se salvar unicamente compreendendo que somos meros coinquilinos do planeta, junto com outras espécies.
É necessário, invoca o autor (que indica Kant, definido por ele como o "squatter de Königsberg", como um dos adversários teóricos), que assumamos autenticamente a responsabilidade e tomemos consciência do nosso ser meros locatários (e nada mais) do "Hotel Humanidade", como deve ser na era da Rede, que tudo une, tornando supérfluo todo fechamento voltado à posse.
Serres faz um sofisticado manifesto para um novo Contrato natural, que podemos inscrever dentro de uma recente "mudança verde" da filosofia francesa, de Jean-Luc Nancy a Bruno Latour, produzida, não por acaso, no país de Daniel Cohn-Bendit (o ex "Dany Le Rouge" [o Vermelho], que se tornou mais recentemente "o Verde") e da impressionante afirmação eleitoral da sua lista Europe Écologie, mas também das declarações ecologistas (independentemente se sinceras ou instrumentais) do presidente Sarkozy.
Uma nação completamente pós-materialista que hoje, e sempre mais, se pensa e se sente também ambientalista.