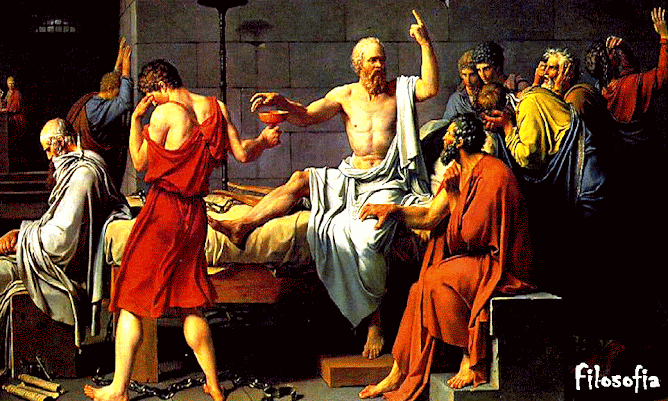Para o alemão, o fundamento do conhecimento humano reside no próprio homem e não nas coisas que ele julga conhecer
Por Raquel Moreira de Souza Camargo.
Chamado por Nietzsche de "cavaleiro solitário" e geralmente considerado extremamente pessimista, o filósofo Arthur Schopenhauer (1788-1860) foi autor de um dos pensamentos mais instigantes e marcantes de toda a história da Filosofia. Grande contestador de seu contemporâneo Hegel, Schopenhauer teve de esperar muito em vida para encontrar o reconhecimento do público por seus trabalhos. Sua filosofia influenciou pensadores como Nietzsche, Wittgenstein, Horkheimer, Sartre, Cioran, escritores como Franz Kafka, Thomas Mann, além de Freud, criador da psicanálise, entre outros.
Sua principal obra, publicada em 1819, diante da qual é simplesmente impossível permanecer impassível, é O mundo como vontade e representação. Nela encontramos as duas proposições - chave de sua filosofia, enunciadas por ele como verdades incontestáveis, mesmo que num primeiro momento elas possam causar repulsa e fazer os homens tremerem, como seu próprio autor confirma. São elas: o mundo é a minha representação e o mundo é a minha vontade.
O pensamento de Schopenhauer parte da filosofia de Immanuel Kant (1724-1804). Kant mostrou ao mundo que o fundamento do conhecimento humano reside no próprio homem e não nas coisas que ele julga conhecer. Kant mostrou como certos elementos essenciais que constituem qualquer objeto não são propriedades do objeto, mas sim do próprio sujeito que conhece. Antes dele, o filósofo John Locke (1632-1704) já havia lançado uma teoria que estabelecia que qualidades como cor, som, odor e maciez seriam, em parte, qualidades subjetivas, pois não pertenceriam exclusivamente aos objetos - diferentemente de qualidades como a solidez, extensão, figura, que para ele, Locke, seriam as qualidades reais dos corpos, presentes realmente neles. Kant vai mais além: para ele, o próprio espaço e o tempo, formas essenciais de todo objeto possível, residem em nossa própria consciência e não nos objetos.
Influência direta para seu compatriota Friedrich Nietzsche, Schopenhauer defendia que é um erro partirmos 'de fora' para encontrarmos a significação tão procurada deste mundo. Dessa maneira, o homem deveria mergulhar com atenção em si
Todo objeto é concebido como sendo um objeto no espaço e no tempo. Esta revista que você tem nas mãos, por exemplo, você a concebe como ela estando num certo ponto do espaço e num certo instante do tempo. Mas este ponto do espaço e este instante do tempo não dizem respeito à revista tal como ela é em si mesma, pois espaço e tempo são formas do seu aparato cognitivo, postas por ele neste objeto que você tem em mãos. Este seria apenas um exemplo grosseiro para ilustrar um pouco o pensamento de Kant. Para ele, o homem já traz em si as formas e as estruturas essenciais com as quais vai perceber o mundo, e os objetos só são por ele percebidos, experienciados e conhecidos por tais formas e estruturas.
Sendo assim, o que o homem efetivamente conhece? As coisas como elas são em si mesmas ou como lhe aparecem? À luz de Kant, vemos que o homem, em razão de sua própria estrutura cognitiva (que já traz consigo as formas essenciais constituintes dos objetos), só pode conhecer os fenômenos, isto é, aquilo que do objeto lhe aparece, e não o objeto tal como é em si mesmo, isto é, a coisa-em-si.
Partindo da filosofia kantiana, Schopenhauer nos evidencia sem rodeios que não podemos afirmar que conhecemos de fato isto e aquilo, estes e aqueles determinados objetos, mas sim que conhecemos o que percebemos deles - sendo que o que percebemos deles não são os objetos tais como são em si mesmos, em sua essência. O que conhecemos de tudo à nossa volta é apenas a nossa representação, termo de Schopenhauer que reelabora o fenômeno de que Kant fala. Tudo o que conhecemos do mundo, tudo o que dele percebemos, é nossa representação. Schopenhauer já abre sua principal obra enunciando: "o mundo é a minha representação.". Quando o homem se dá conta disso, diz Schopenhauer, "pode-se dizer que nasceu nele o espírito filosófico. Possui então a inteira certeza de não conhecer nem um sol nem uma terra, mas apenas olhos que vêem este sol, mãos que tocam esta terra; em uma palavra, ele sabe que o mundo que o cerca existe apenas como representação, na sua relação com um ser que percebe, que é o próprio homem".
Como geralmente ocorre quando entramos em contato com o pensamento de um bom filósofo, nosso chão de certezas vai ruindo e desmoronando sob os nossos pés à medida que vamos avançando em sua reflexão. Schopenhauer logo denuncia que neste mundo de representação as coisas têm existência meramente relativa. Todo e qualquer objeto ou ser que percebo o concebo como ocupando um determinado lugar no espaço, presente num certo instante do tempo e como sendo efeito e causa de outros objetos (relacionando-se com eles por causalidade, portanto). Todo objeto que assim percebo não tem existência por si: sua existência é relativa, na medida em que depende da relação que este objeto mantém com outro objeto. O próprio tempo é apresentado por Schopenhauer como sendo puramente relativo e não algo absoluto; passado, presente e futuro como sendo "coisas tão vãs como o mais vão dos sonhos".
À medida que vou percebendo os objetos e estabelecendo relações entre eles, submetendo-os às formas do espaço, tempo e causalidade, vou construindo o meu mundo como representação - um mundo que não passa de uma teia de objetos em relações uns com os outros. Schopenhauer compara o mundo como representação a uma ilusão, como o véu de Maya da filosofia vedanta. Tudo aí parece ser incerto, efêmero, nada sendo seguro em si mesmo. Ora, é perfeitamente compreensível se nos sentimos perdidos neste mundo nebuloso de representação. O que conheço não é a coisa em si mesma, de modo que não posso nem dizer propriamente que a conheço, e tudo no mundo inteiro que percebo tem existência relativa! O que fazer diante disso, então? Como fico eu, o sujeito que conhece?
Na filosofia de Schopenhauer o sujeito pode até sentir-se um tanto perdido, desesperançoso, mas não insignificante: ele é apresentado por nosso filósofo como sendo o sustentáculo do mundo. Se todos os seres que percebem desaparecessem do mundo e só sobrasse você, a existência do mundo inteiro como representação dependeria de sua sobrevivência. Se você então desaparecesse, com você também sumiria este tal mundo. Isso porque existência e perceptibilidade aparecem no pensamento de Schopenhauer como termos equivalentes. Isso quer dizer que não teria sentido em falar em existência pura do objeto sem a percepção do sujeito, isto é, só tem sentido em falar que o objeto existe se houver pelo menos um sujeito que de algum modo o perceba. O sujeito é assim o sustentáculo do mundo como representação, pois tal mundo é um mundo que é percebido. Entretanto, isso não valeria para subestimarmos os objetos. Para Schopenhauer, o sujeito também pressupõe o objeto a ser percebido para poder existir - se não houvesse o objeto, não haveria também sentido em falar em sujeito que percebe e conhece.
Mas ainda há um certo incômodo, uma pergunta que não quer calar: e a coisa- em-si? Poderia eu ter acesso a ela? Para Kant, a coisa-em-si seria algo para nós completamente incognoscível. Devido à natureza do nosso próprio aparato cognitivo, só poderíamos conhecer o fenômeno, isto é, o objeto tal como ele nos aparece, e não como é em si mesmo. O que conhecemos do mundo não é sua essência, o mundo como é em si mesmo; o que conhecemos dele é tão somente seu fenômeno, isto é, o mundo tal como nos aparece. Segundo Kant, não teríamos como ir além disto, já que os fenômenos são condicionados pelas formas e estruturas que se encontram em nós mesmos, em nossa sensibilidade e intelecto.
Poderíamos até pensar a coisa-em-si, mas nunca conhecê-la efetivamente. Este é o ponto principal de divergência entre os pensamentos de Kant e de Schopenhauer, pois este último não só definiu claramente o que seria a coisa-em-si como demarcou muito bem as vias de acesso a ela.
Segundo Schopenhauer, a essência de todas as coisas, que para ele seria a coisa-em-si, é a Vontade. Vontade é um impulso cego, um ímpeto, uma força vital, um esforço de vida, um querer viver incessante que seria o fundo íntimo e essencial de todo o universo. O universo inteiro seria manifestação e expressão da Vontade. Ela é que seria o fundo essencial de todos os fenômenos. O mundo assim apresenta dois lados, como as duas faces de uma mesma moeda: o mundo como representação e o mundo como vontade.
O mundo como representação é a vontade tornada objeto; é a vontade objetivada, isto é, tornada perceptível. À vontade objetivada, tornada objeto perceptível, Schopenhauer chama "objetidade" ou "objetivação" da vontade. Os fenômenos são todos manifestações da vontade segundo diferentes graus de sua objetidade ou objetivação. Assim, as forças gerais e primitivas da natureza correspondem ao grau mais baixo da objetivação da vontade. É a gravidade, impenetrabilidade, solidez, fluidez, elasticidade, eletricidade, magnetismo; fenômenos que são as manifestações imediatas da vontade. A vontade se objetiva em graus cada vez mais elevados, do reino inorgânico ao reino orgânico, do reino vegetal ao animal, sendo o ser humano sua mais alta expressão, o grau extremo de sua objetidade. Para Schopenhauer, podemos reconhecer esse querer viver, essa força vital, esse impulso e ímpeto incessante de vida que é a vontade em todos esses graus de sua objetivação, desde nas forças como a gravidade e o magnetismo, nas pedras, no crescimento de uma planta, na vida de um animal, até no homem. Tudo isso é a objetidade dessa mesma vontade, é a vontade tornada perceptível, tornada objetos (forças, seres, coisas etc.). Este, então, é o mundo como vontade.
A vontade é incessante e insaciável. Podemos reconhecer este seu caráter numa planta, por exemplo, que é uma de suas muitas e variadas manifestações: ela cresce e se desenvolve a partir de uma semente, forma sua haste, suas folhas, flores e frutos - frutos que contêm novas sementes que gerarão novas plantas e assim por diante, num ciclo infindável que exprime o impulso incessante de vida que é a vontade.
Suponhamos que nos perdêssemos a contemplar a infinitude do mundo no tempo e no espaço, quer refletíssemos sobre a multidão dos séculos passados e futuros, quer durante a noite o céu nos revele, na sua realidade, mundos sem número, ou que a imensidão do universo oprima, por assim dizer, a nossa consciência: neste caso, sentimo-nos reduzidos ao nada; como indivíduo, como corpo animado, como fenômeno passageiro da vontade, temos a consciência de não ser mais do que uma gota no oceano, isto é, de nos dissiparmos e de desaparecermos no nada. Mas, ao mesmo tempo, contra a ilusão do nosso nada, contra esta mentira impossível, eleva-se em nós a consciência imediata que nos revela que todos esses mundos existem apenas na nossa representação; eles são apenas modificações do sujeito eterno do puro conhecimento; são apenas aquilo que sentimos em nós, desde que esquecemos a individualidade; em resumo, é em nós que reside o que constitui o suporte necessário e indispensável de todos os mundos e de todos os tempos. A grandeza do mundo, que há pouco espantavanos, agora reside, serena, em nós mesmos: a nossa dependência em relação a ela está a partir de agora suprimida, visto que presentemente é ela que depende de nós. - No entanto, não fazemos efetivamente todas estas reflexões; limitamo-nos a sentir, de uma maneira completamente irrefletida, que, num certo sentido (só a filosofia pode precisá- lo), somos um com o mundo, e que, por conseguinte, a sua infinitude ergue-nos, ao contrário de nos esmagar. É esta consciência, ainda completamente sentimental, que os Upanixades dos Vedas repetem sob tantas formas variadas e, sobretudo, nesta frase que citamos mais acima: 'Eu sou todas estas criaturas, e por minha causa não há outro ser' (Oupnekhat, 1, 122). Existe aí um êxtase que ultrapassa a nossa própria individualidade; é o sentimento do sublime." Arthur Schopenhauer. O mundo como vontade e representação, Livro III, 39, p.215, 216
O mesmo pode ser visto na vida dos animais, na renovação constante da matéria em cada organismo e nos desejos sem fim do indivíduo humano. Partindo de necessidades, de um sofrer, o homem deseja algo e lança-se com esforço à sua realização; mas um desejo saciado é apenas o ponto de partida para um outro desejo, uma nova busca.
Quando consegue saciar seus desejos, o homem tem um prazer passageiro ou ainda tédio; tem dor quando não o faz ou quando sua realização se dá de forma lenta. Quando não sabe o que quer, quando seu desejo não tem um objeto determinado, o homem se aborrece e se encontra num estado de "languidez mortal". A vida humana é assim, profundamente marcada por sofrimento, pois ela é apenas a manifestação de uma vontade infindável, esfomeada, irresistível e insaciável. Schopenhauer diz que o ser humano não nasce condenado à morte; o homem nasce condenado à vida. "Viver é sofrer." Daí sua fama de extremo pessimista.
A vontade insaciável se refaz constantemente por ela mesma; "sob as diversas formas que reveste, constitui o seu próprio alimento". Um animal só pode manter sua vida à custa de um outro ou de uma planta; esta, à custa da terra, da água etc.. A natureza assim se alimenta de si mesma, e por isso é marcada por constante luta e combate. Na filosofia de Schopenhauer não há um Deus que engendre e assim justifique tal ordem das coisas; o mundo tal como o conhecemos é apenas o fenômeno de uma fome insaciável, a manifestação da vontade de viver sem fim, essência íntima de todo o universo. A vida de um indivíduo humano, como a vida de qualquer outro ser e como qualquer acontecimento do universo, não seria algo que obedece a alguma razão, lei ou dignidade elevada ou divina. Para Schopenhauer, uma vida humana, com sua história, suas realizações, seus desejos, suas dores, aspirações, sentimentos, ideais e projetos, nada mais seria do que um fenômeno passageiro da vontade. Daí também o caráter amargo que muitos conferem à sua filosofia.
Mesmo o homem sendo o grau mais alto de manifestação da vontade, seria errôneo se entendêssemos que nele há "mais vontade" do que numa planta. Isso porque a vontade não se reparte quando se objetiva; ou seja, quando se torna objetos perceptíveis diferentes, a vontade não se divide neles. Não há mais dela num leão do que numa pedra. A vontade é una e indivisível; "mais" e "menos" dizem respeito aos graus de sua expressão: o reino orgânico é um grau maior de expressão da vontade do que o reino inorgânico, o animal é um grau maior de sua expressão do que o vegetal, e o ser humano é a sua mais alta expressão.
Do mesmo modo, a vontade não precisa de todos os indivíduos de uma mesma espécie para se manifestar inteiramente por esta espécie; bastaria apenas um. Como diz Schopenhauer: "ela manifesta- se tão bem e tanto em um carvalho como em um milhão de carvalhos.". A vontade apresenta-se una e indivisível em cada ser, do mais simples ao mais complexo; una e indivisível em cada canto do universo.
Ora, sendo então a mesma vontade una e indivisível em cada ser e em cada fenômeno, bastaria, para apreendermos a essência de todo o universo, nos determos apenas a um único objeto. É sobre isso que Schopenhauer reflete nestas belas palavras: "tentou-se, de diversas maneiras, fazer compreender à inteligência de cada um a imensidão do mundo, e viu-se nisso um pretexto para considerações edificantes, como, por exemplo, sobre a pequenez relativa da terra e do homem, e, por outro lado, sobre a grandeza da inteligência desse mesmo homem tão fraco e tão miserável que pode conhecer, apreender e medir mesmo essa imensidão do mundo; e outras reflexões deste gênero. Tudo isto está muito bem; mas, para mim que considero a grandeza do mundo, o importante de tudo isso é que o Ser em si do qual o mundo é o fenômeno - qualquer que ele possa ser - não pode ser dividido, retalhado assim no espaço ilimitado, mas que toda esta extensão infinita apenas pertence ao seu fenômeno, e que ele próprio está totalmente presente em cada objeto da natureza, em cada ser vivo. Também não se perde nada se nos limitarmos a um único objeto, e não é necessário, para adquirir a verdadeira sabedoria, medir todo o universo, ou, o que seria mais racional, percorrê-lo pessoalmente; vale mais estudar um só objeto, com a intenção de aprender a conhecê-lo e apreender-lhe perfeitamente a verdadeira essência.".
Sobre qual objeto, então, determos nossa atenção para apreendermos esse ser-em-si do mundo, a essência de todo o universo, a coisa-em-si que Schopenhauer nos apresenta como sendo a vontade? Se ela está presente una e indivisível em tudo, haveria algum ponto do universo que nos serviria de acesso fácil a ela? Segundo o filósofo alemão, há uma via de acesso direto à essência do mundo a qual não poderia estar mais 'perto' de você. Na verdade, você já tem conhecimento da vontade, da coisa-em-si, justamente por aquilo que lhe é mais imediato: seu próprio corpo.
Não é apenas nos fenômenos completamente semelhantes ao seu próprio, nos homens e nos animais, que ele encontrará, como essência íntima, essa mesma vontade; mas um pouco mais de reflexão o levará a reconhecer que a universalidade dos fenômenos, tão diversos para a representação, têm uma única e mesma essência, a mesma que lhe é conhecida íntima, imediatamente, e melhor do que qualquer outra, aquela enfim que na sua manifestação mais aparente tem o nome de vontade. Ele a verá na força que faz crescer e vegetar a planta e cristalizar o mineral; que dirige a agulha magnética para o norte; na comoção que experimenta com o contato de dois metais heterogêneos; ele a encontrará nas afinidades eletivas dos corpos que se manifestam sob a forma de atração ou de repulsa, de combinação ou de decomposição; e até na gravidade que age com tanto poder em toda matéria que atrai a pedra para a terra, como a terra para o sol. É refletindo sobre todos estes fatos que, ultrapassando o fenômeno, chegamos à coisa em si. 'Fenômeno' significa representação, e mais nada; e toda representação, todo objeto é fenômeno. A coisa em si é unicamente a vontade; nesta qualidade, esta não é de maneira nenhuma representação, difere dela toto genere; a representação, o objeto, é o fenômeno, a visibilidade, a objetividade da vontade. A vontade é a substância íntima, o núcleo tanto de toda coisa particular, como do conjunto; é ela que se manifesta na força natural cega; ela encontra-se na conduta racional do homem; se as duas diferem tão profundamente, é em grau e não em essência." Arthur Schopenhauer. O mundo como vontade e representação, Livro II, 21, p.119.
Nosso filósofo defende que é um erro partirmos 'de fora' para encontrarmos a significação tão procurada deste mundo; para tanto, o homem deveria mergulhar com atenção em si mesmo. Para Schopenhauer, seria impossível para o homem encontrar a significação do mundo se ele fosse apenas "uma cabeça de anjo alado, sem corpo". A existência de um corpo é a condição necessária do conhecimento. Voltando-se a si, o homem depara-se com o objeto que lhe é mais imediato: seu corpo. E, juntamente com seu corpo, o homem descobre aquilo que constitui a sua essência íntima, a força interior do seu ser, o que há de mais imediato em sua consciência, aquele princípio imediatamente conhecido por cada um, isto é, a sua vontade.
PESSIMISMO E HUMANIDADE
[...] A verdadeira razão que nos faz hoje retomar Schopenhauer e examinar sua concepção do mundo, o motivo que nos leva a evocar sua fisionomia espiritual, com tudo que ela lembra, diante de uma geração que não sabe grande coisa dele, são as relações do pessimismo e da humanidade. É o desejo de transmitir aos homens do tempo presente, nos quais o sentimento de humanidade atravessa grave crise, a experiência pessoal da união particular contraída pela melancolia e pela altivez do homem nesta filosofia. O pessimismo de Schopenhauer é sua humanidade. Sua explicação do mundo pela vontade, sua intuição da onipotência dos instintos, o rebaixamento da razão outrora divina, do espírito, da inteligência, reduzida a não ser mais que o instrumento da vida que quer afirmar- se, tudo isso é anticlássico e, em essência, inumano. Mas sua humanidade, sua espiritualidade, residem, precisamente, no matiz pessimista de sua doutrina, que o leva a renegar o mundo e a pregar um ideal ascético; no fato de que esse grande escritor, versado em sofrimento, cuja prosa é a da grande época de nossa civilização humanista, tirou o homem do elemento biológico e da natureza, fez de sua alma, que sente e conhece, o teatro da inversão do querer e viu nele o salvador possível de todas as criaturas [...] Trecho de Schopenhauer, de Thomas Mann
O homem percebe que seu corpo e sua vontade são uma e a mesma coisa; percebe que todo ato voluntário corresponde a uma ação corporal - tal correspondência se dá sempre e, infalivelmente, diz Schopenhauer. As ações da vontade e do corpo não estão ligadas por causalidade, isto é, os movimentos do corpo não são efeitos de atos voluntários que seriam sua causa: todo e qualquer ato da vontade é ao mesmo tempo uma ação corporal. Do mesmo modo, qualquer ação externa exercida sobre o corpo é uma ação exercida diretamente sobre a vontade: quando lhe vai contra, tem-se dor; quando tal ação é favorável à vontade, tem-se prazer ou bem-estar. Enfim, para Schopenhauer, corpo e vontade são idênticos: uma e a mesma coisa. O corpo inteiro é para ele a vontade objetivada, isto é, tornada perceptível.
O corpo próprio é, assim, algo peculiar no mundo. O homem tem um duplo conhecimento de seu corpo: por um lado, percebe-o como um objeto como os outros, fenômeno no espaço e no tempo, como representação, portanto; por outro lado, o corpo é tido de uma maneira tão única que não pode ser comparada a nenhuma outra experiência que se tenha no mundo; o corpo é conhecido como vontade. O corpo próprio é assim peculiar por ser o único objeto imediatamente conhecido pelo homem como representação e como vontade ao mesmo tempo. O homem não tem esta mesma experiência dos outros objetos do mundo como a que tem de seu próprio corpo. Os outros objetos são-lhe conhecidos apenas como representações.
O conhecimento que o homem tem da identidade entre seu corpo e a vontade é o mais imediato de seus conhecimentos, e constitui uma verdade de um gênero especial. O conhecimento do corpo como representação e como vontade não é uma verdade lógica, nem empírica, nem metafísica: é a verdade filosófica por excelência. Esta verdade, este duplo conhecimento a respeito do corpo próprio, servirá ao homem de chave para penetrar na essência de todos os outros corpos, de todos os objetos e fenômenos que não são experienciados por ele como sendo seu próprio corpo. Julgando tais objetos e fenômenos por analogia com nosso próprio corpo, tomamo-os como sendo semelhantes ao nosso corpo enquanto também são representações. E se quisermos atribuir existência e realidade a tais fenômenos e objetos, devemos tomar-lhes como sendo também vontade, expressões dela, exatamente como nosso próprio corpo o é.
É esta reflexão que faz Schopenhauer: "com efeito, que outra espécie de existência ou de realidade poderíamos atribuir, ao mundo dos corpos? Onde tomar os elementos com que a comporíamos? Fora? Fora da vontade e da representação, não podemos pensar nada. Se queremos atribuir a maior realidade ao mundo dos corpos, que percebemos imediatamente na nossa representação, dar-lhe-emos aquela que, aos olhos de cada um de nós, tem o nosso próprio corpo, visto que é para todos o que existe de mais real. Mas se analisamos a realidade desse corpo e dessas ações, só encontramos nele - além de que ele é a nossa representação - o fato de que ele é a nossa vontade: daí decorre toda a sua realidade. Não podemos, por conseqüência, encontrar outra realidade para colocar no mundo dos corpos. Se ele deve ser qualquer coisa mais do que a nossa representação, devemos dizer que fora da representação, isto é, em si mesmo e pela sua essência, ele deve ser o que encontramos imediatamente em nós sob esse nome de vontade".
O homem então, pela reflexão, encontra nos outros corpos a mesma vontade una e indivisível que encontra imediatamente em si mesmo. Através do duplo conhecimento que tem sobre seu próprio corpo, a saber, como representação e como vontade, o homem pode penetrar na essência de toda a natureza, com suas forças e seus seres. Ele agora pode reconhecer em tudo a mesma essência que lhe é tão íntima: a vontade. Reconhecendo que a essência dele e de todo o universo é a mesma, una e indivisível, pode enfim enunciar com plena consciência o que outrora talvez lhe tenha causado grande repulsa ou estranhamento: "O mundo é a minha vontade."
REFERÊNCIAS
Schopenhauer, Arthur. O mundo como vontade e representação.Rio de Janeiro: Contraponto, 2001.
____________. Crítica da filosofia kantiana. São Paulo: Nova Cultural, 1991. (Col. Os Pensadores)
_________.Ainda alguns esclarecimentos sobre a filosofia kantiana. Cadernos de Filosofia Alemã 4, 1998.
_________. Parerga e paralipomena. São Paulo: Nova Cultural, 1991. (Col. Os Pensadores) Comentários
Cacciola, Maria Lúcia M. O. Schopenhauer e a questão do dogmatismo. São Paulo: Edusp, 1994.
Cacciola, Maria Lúcia. A crítica da razão no pensamento de Schopenhauer, Dissertação de mestrado apresentada ao Departamento de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 1981.
Cacciola, Maria Lúcia. O conceito de interesse. Cadernos de Filosofia Alemã 5; 1999. Barboza, Jair. A metafísica do belo de Arthur Schopenhauer. São Paulo: Humanitas / FFLCH / USP, 2001.
Reale, Giovanni e Antiseri, Dario. História da filosofia, 5: do romantismo ao Empiriocriticismo. São Paulo: Paulus, 2005.
Kant, Immanuel. Crítica da razão pura. 4ª ed. Fundação Calouste Gulbenkian. Kant, Immanuel. Prolegómenos a toda a metafísica futura. Lisboa: Edições70. Reale, Giovanni e Antiseri, Dario. História da filosofia: de Spinoza a Kant. São Paulo: Paulus, 2005, v.4.