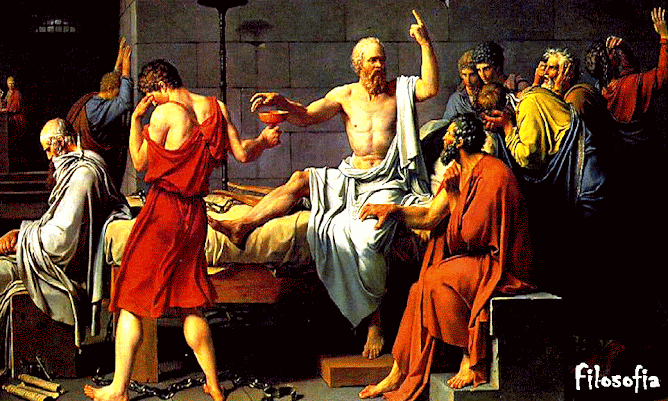Autor: Prof. Dr. Arnaldo Fortes Drummond/UFU
Autor: Prof. Dr. Arnaldo Fortes Drummond/UFUFonte: Revista Eletrônica Estudos Hegelianos
Esta comunicação diz respeito a um projeto de pesquisa sobre Hegel, em nível pós-doutoral junto ao Professor Dr. Marcelo F. de Aquino do PPGFilosofia da UNISINOS. Esse projeto de pesquisa pretende analisar a concepção hegeliana de sociedade civil[1], voltada propriamente à parte relativa a liberdade de mercado, destacando aí os limites intransponíveis para o exercício da eticidade e, conseqüentemente, de uma combinação entre ética e economia numa sociedade organizada sob o primado do mercado.
O natural desdobramento deste projeto, a ser desenvolvido em etapa posterior ao pós-doutorado, é a relação temática entre liberdade e sociedade civil em Hegel com vistas a contribuir para uma Teoria Social (TS)[2] alternativa cujo papel é o de formular de maneira integrada os temas econômico, político e do direito de uma nova ordem social.
Para esta futura TS, tornar-se-á indispensável assumir uma concepção de liberdade que fundamente a contraposição à global teoria econômica capitalista. Pois, a teoria econômica liberal, como se sabe, sempre se apresenta tendo como princípio a liberdade de mercado ou a lógica livre do mercado. Logo, como há na raiz da teoria econômica capitalista uma concepção falsa de liberdade, sem refutá-la, não se consegue propor algo alternativo.
Ninguém como Hegel fez do tema da liberdade o núcleo de um sistema conceptual. [3]Por isso, o pensamento de Hegel continua sendo a fonte mais fecunda para pensar as teorias cujo princípio, raiz ou fundamento seja a liberdade. Ele é, por isso, o pensamento para orientar a crítica radical a toda Teoria Política cujo princípio é o da liberdade, conforme as vertentes do liberalismo em sua inata condição contratualista. E é o pensamento para rechaçar o primado econômico como operador exclusivo da sociedade civil, ainda que ele considere essa sociedade civil o lugar social onde se privilegiam os interesses e necessidades particulares em detrimento do interesse comum.
A sociedade civil moderna, na acepção de Hegel, sendo um dos três momentos essenciais da dialética da eticidade concreta, não pode ser autonomizada em seu primado econômico sem contrariar o princípio da liberdade. Aos que evocam para a sociedade civil o princípio da liberdade de mercado, o que a tornaria, portanto, sociedade civil burguesa, há desconhecimento de princípio anterior de ordem ou Estado que não é, pois, o da liberdade realizada. Ao contrário, o princípio aí implícito de um Estado feito pela autonomização da sociedade civil burguesa é, no máximo, o da realização institucional e, pois, dogmática de um Estado de Entendimento o qual é contrário ao exercício da liberdade concreta.[4]
O Estado de Entendimento reduz duplamente o exercício da liberdade concreta. Do lado individual, a liberdade fica reduzida a livre arbítrio e, do lado social, a liberdade inscrita no direito em geral atrofia-se em modelo de universalidade hipotética de relações jurídicas para conciliar a liberdade de escolha individual dentro de um sistema social de necessidades e recursos pré-existente. A liberdade, então, torna-se: 1) prisioneira de uma racionalidade externa a si que, por isso; 2) assume caráter técnico que implica em; 3) uma ordem tecnicamente administrada ou contratual ou Estado de Entendimento que, por sua vez; 4) apenas opera segundo um direito privado uma vez que; 5) arbitra conflitos de interesse privados e contratos particulares segundo a hegemonia ou o Poder de tais interesses. Com isso, em nome de um operador exclusivo que é o Estado de entendimento, atropela-se a eticidade concreta de um Estado provedor da liberdade concreta.
Segundo Hegel, a perspectiva do contratualismo/jusnaturalismo própria ao Estado de Entendimento não permite a realização do fenômeno absolutamente original da sociedade contemporânea que é a sociedade civil moderna – lugar social do indivíduo e de suas necessidade particulares no mundo do trabalho e da produção – enquanto momento essencial de mediação na dialética de construção da eticidade concreta ou Estado Justo (ético). Por isso, as relações sociais no Estado de Entendimento são relações contratuais de caráter privado que falseiam o interesse geral ou público.
Daí, o diagnóstico de Hegel, ainda atual, da enorme confusão no Estado liberal o qual impede a construção de um direito estatal ou público e a sua efetivação porque é, por assim dizer, um anti-Estado ao se subsumir à dinâmica da sociedade civil onde os interesses que prevalecem são de natureza privada.[5]
A concepção hegeliana de liberdade a partir da vontade, embora estudada e re-valorizada nos círculos filosóficos contemporâneos é chave hermenêutica e heurística para uma Teoria Social, ainda longe de ser compreendida pelas Ciências Humanas em geral. Compreendê-la e aplicá-la como Hegel a postulou no domínio da eticidade é transformar o atual mundo político, econômico e jurídico em verdadeiro e, pois, concreto humanismo, isto é, o humanismo fundado na liberdade concreta cujo exercício não se aliena do conteúdo de si.
Isto resgataria uma Teoria Social que, em nome da verdadeira liberdade, contrapõe-se à global teoria econômica capitalista sob cuja liberdade de mercado quer justificar seu fundamento humanista.
Hegel funda nova perspectiva de abordagem ao tema da liberdade no idealismo alemão. Por sua vez, o idealismo alemão fundara a liberdade na lógica do saber absoluto. É o que fizeram Kant e Fichte ao considerar a possibilidade de um conhecimento imediato, respectivamente, do dever moral provindo da razão prática (Kant) e da liberdade provinda do eu universal e infinito (Fichte). Em ambos, a liberdade ainda não ganhara autonomia de liberdade e sim, de liberdade pensada enquanto representação de autonomia. Segundo a denominação de Hegel, esta liberdade ainda é mediada pelo intelecto. Essa acepção de liberdade, para Hegel, não ultrapassa o livre-arbítrio, isto é, a liberdade fundada sobre um vazio de si enquanto exclusão do conteúdo de si.[6]
A liberdade, sistematizada sobretudo nos §§ 4-30 da introdução dos Princípios da filosofia do direito, passa a constituir em Hegel não apenas a fonte da Filosofia do direito, mas o princípio de sua filosofia especulativa que, nesta acepção, é a matriz do verdadeiro conhecimento. A filosofia especulativa é o sistema logico-onto-gnosiológico em que ser e pensar são ser e manifestar-se como momentos indissociáveis da dialética da liberdade[7].
Nos parágrafos 1 a 4 da introdução, Hegel institui o limite intransponível entre o conhecimento produzido pelo intelecto cujo principal produto é a ciência particular ou específica e o conhecimento que provém da liberdade cujo principal produto é a própria ciência ou filosofia enquanto certeza em si e para si do autoproduzir-se. Por isto é um saber denominado especulativo uma vez que seu operador é causa eficiente de si mesmo como o saber absoluto.
A liberdade do intelecto é abstrata na medida em que, mediada pelo intelecto, é apenas pensada, quer positiva ou negativamente, como escolha livre ou liberdade de escolha, isto é, livre-arbítrio. Mas de que outra maneira se poderia pensar a liberdade sem pensá-la abstratamente? É possível pensá-la, sim, segundo Hegel, como liberdade concreta, através do saber especulativo. A especulação é, portanto, o único procedimento gnosiológico que Hegel reserva à filosofia de seu tempo, embora ninguém o tivesse desvendado na amplitude que ele propôs. Esta é, pois, uma invenção hegeliana.[8]
Sobre esta liberdade concreta, ele vai tratar os próximos parágrafos da Introdução, da maneira mais sistemática que em seus outros escritos[9]. Bastam os parágrafos 5 a 7 para fixar os fundamentos desta liberdade onde já se identifica a chave hermenêutica de todo sistema de Hegel: a liberdade concreta. E, conseqüentemente, o saber em que ela se funda: o saber absoluto ou o conceito.
Hegel demonstra (§§ 5-7) que o tema da liberdade não pode ser produzido pelo intelecto sem suprimir a verdadeira liberdade: a liberdade concreta ou real. Pois, o intelecto pensa (entendimento) a realidade apenas representando-a , isto é, dissociando-se do objeto investigado ao abstrair-se dele e, por isso, o representa. O intelecto, então, ao relacionar-se com o objeto cria necessariamente a dualidade entre universal e particular; infinito e finito. Desse modo, não se refere imediatamente ao objeto concreto e sim, à sua representação abstrata.
Ao contrário, a liberdade verdadeira é concreta (“tudo que é verdadeiro é concreto”)[10] e, por isso, ela se produz como vontade, isto é, caminho cuja mediação entre o universal e o particular, o infinito e o finito é a própria imanência da abstração de auto-produzir-se: a liberdade da vontade .[11]
A imanência da abstração do auto-produzir-se da liberdade da vontade é denominada por Hegel determinidade. Pois, diferentemente do intelecto, cuja abstração do objeto é sua representação, a abstração da vontade é em si mesma uma determinação indissociável do objeto a que se destina. Diferentemente da representação do intelecto, o auto-produzir-se da abstração da vontade é uma determinação que reúne de maneira indissociável universal e particular, infinito e finito. O que é, então, esta determinação da liberdade da vontade senão o saber absoluto – saber resolvido sobre o saber que sabe agir ou saber que sabe imediatamente seu saber agir – senão propriamente o conceito? Logo, para Hegel, liberdade e conceito são noções homólogas de um mesmo sistema porque liberdade concreta é homóloga à forma da verdade ou Idéia ou Conceito. Com isso, a verdadeira ciência é a que se produz como liberdade concreta em cujo princípio reúne-se dialeticamente ética, política, direito e economia para instituir nova Teoria Social ou Teoria do Estado assumida enquanto eticidade concreta: a liberdade fazendo-se enquanto conceito de si na vida social.
O projeto de pesquisa visa a refutar, desse modo, três momentos dialeticamente indissociáveis ainda enunciados de maneira preliminar nesta fase da investigação:
1º Momento – Identidade: A liberdade de mercado é, de fato, ordem ou estado de mercado cujo princípio é o primado da lei de mercado (ou lei do mais forte) na relação de competição econômica. Esta lei funda, portanto, um Estado sem ethos público em que prevalece a lógica do interesse privado.
2º Momento – Diferença: A economia torna-se falsamente uma ordem econômica (Estado) quando , de fato, é instância da sociedade civil que trata das relações sociais de carências e interesses particulares.
3º Momento – Singularidade: No Estado do mais forte em que prevalece a ordem econômica ou ordem de mercado, a sociedade civil, contrariamente a Hegel, ganha autonomia de momento exclusivo e substitui a dialética da eticidade concreta (família, sociedade civil, estado). O Estado do entendimento, então, sob o primado da ordem econômica, substitui o Estado da liberdade.
Pode-se dizer em formulação preliminar que, no Estado do entendimento sob o primado da ordem de mercado, há uma dialética do anti-Estado da liberdade ou um Estado que não permite a liberdade efetiva como seu fundamento.
Neste tipo de Estado, o agir econômico, ao contrário do que propala todo liberalismo ou toda teoria econômica liberal, é o agir econômico para não ser livre no sentido do exercício da liberdade subjetiva: é o anti-Estado hegeliano.
Notas:
[1] A sociedade civil a que me refiro nesta comunicação é sempre a moderna sociedade civil. Ela é diretamente tratada por Hegel em sua Filosofia do Direito nos §§ 181-208.
[2] A expressão Teoria Social é aqui tomada na ampla acepção frankfurtiana de Ordem Política ou Teoria de Estado.
[3] LIMA VAZ, Ética filosófica 1, p. 374 -404.
[4] § 183.
[5][5] “l’immixtion de ce rapport [contratuel], ainsi que celle des rapports de propriété privée en général, dans le contexte étatique a produit les plus grandes confusions dans le droit étatique et dans l’effectivité. »FD §75 nota.
[6] No Prefácio, Hegel já caracteriza a acepção kantiana de liberdade como livre arbítrio ou liberdade do vazio ou liberdade negativa.
[7] LIMA VAZ, op. cit., p. 374-376.
[8] No final do adendo do § 4, Hegel indica a introspecção sobre a vontade como a mediação reveladora da liberdade concreta de onde provém o saber especulativo. Esta invenção hegeliana é considerada superior à revolução copernicana de Kant, conforme LIMA VAZ, op. cit., p. 366.
[9] Cf. o primeiro parágrafo do Prefácio.
[10] Afirmação de Hegel no adendo do § 7.
[11] Final do adendo do § 6.
 O sofrimento dos filósofos - Reflexões em torno da constante retórica que encontramos nos preâmbulos da dor humana
O sofrimento dos filósofos - Reflexões em torno da constante retórica que encontramos nos preâmbulos da dor humana